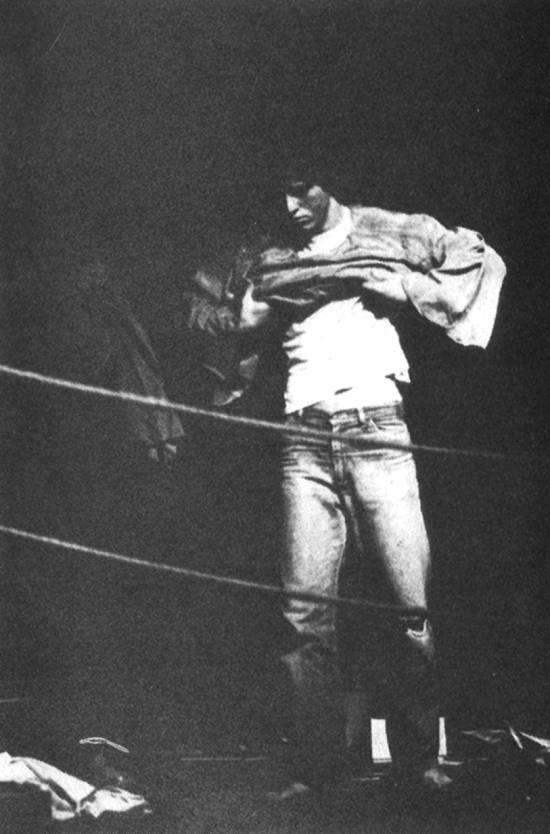|
Apogeu e decadência
Na década de 20, Santos chegou a ter 3.500 lugares em
teatros. Hoje, nos anos 90, com dois teatros do Centro Cultural de Santos, o Teatro do Sesc, o teatro do Sesi e alguns
outros da iniciativa particular, usados para teatro, como o dos Metalúrgicos, a cidade não alcança 2.000 lugares.
O Centro de Expansão
Cultural teve, nos anos 20, 30, 40 e 50, uma participação muito mais significativa do que tem hoje.
O Coliseu em 1924 tinha 2.300
lugares e lotava todas as apresentações. As temporadas eram longas, com a venda de assinaturas. As companhias vinham da Europa para apresentar
teatro de repertório. As companhias brasileiras tinham em Santos parada obrigatória. Santos era, como é considerada até hoje, um dos melhores
públicos de teatro do Brasil. Proporcionalmente, tem um público de teatro maior que São Paulo. Mas a quantidade de lugares diminuiu e a população
cresceu.
A gente começa a constatar agora, com dados reais, o que até
hoje sempre tinha sido um comentário muito superficial: que o cinema e a televisão roubam público de teatro, que as condições das diferentes formas
de espetáculos diminuíram com a diversificação, porque a televisão e o cinema produzem o mito. E o mito afasta o homem da reflexão, enquanto o
teatro, colocando em cena a figura de carne e osso, trabalha contra a mitificação, estimulando muito mais a reflexão do espectador a nível de
realidade. A fantasia trabalhada pelo cinema e pela televisão tira o espectador da sua posição de enfrentamento com a verdade que o teatro produz,
mesmo estimulando a fantasia.
Um dos módulos do curso de pós-graduação, que estou
cursando, da Faculdade de Comunicação de Santos, é Mídia e Mito. Estudando este tema, os meios de comunicação de massa
propõem um lazer que dificulta ou impede o sentido do afastamento, da reflexão. O homem não consegue mais se ver, nem pensar em si mesmo.
E o teatro é bem isso. Nós entramos, assistimos e refletimos
não só sobre nós como sobre nossa realidade. Hoje, infelizmente vivemos num mundo onde o significado é totalmente distorcido. A televisão utiliza a
criação dos mitos como Ayrton Senna, ou Fernando Henrique ou Collor, que
nos levam a pensar que eles são os nossos salvadores, os que realizam nossos sonhos e nossas vidas. Damos a eles o poder de fazer o nosso caminho.
E a televisão faz isso de uma maneira tão brilhante que a
nossa cultura cada vez nos distancia mais de nós mesmos. O teatro é um ponto chave para se trabalhar isso, só que cada vez o espaço fica mais
reduzido.
Lembro que na minha adolescência eu ia ao
Clube XV, ao Caiçara, assistir peças.
Consegui ir ao Coliseu já em sua fase final. Assisti poucas
peças lá. Uma das últimas foi Quem Tem Medo de Virgínia Wolf,
com Tônia Carrero. Apesar de um morcego voando ter assustado todo mundo, quando as luzes do palco se acenderam o foco de atenção, a paixão, se
concentraram no palco e se instalou o silêncio e o respeito que o teatro exige.
A primeira vez que entrei no Coliseu foi aquela coisa meio
de criança. Fiquei deslumbrada com o teatro do qual eu ouvira falar na minha infância. Fui assistir, se não me engano,
Calabar,
e custei para me envolver na peça porque estava alucinada com a beleza do teatro, com o mármore e a pompa que lembrava o passado. Era uma pena ver a
deterioração, os espaços para os camarotes estragados, ver tudo aquilo caindo.
Estive recentemente no teatro Colon em
Buenos Aires. Que coisa maravilhosa! Quando o homem acredita na sua formação, consegue investir no aspecto
cultural. Muitas vezes o poder consegue acabar destruindo isso.
Quando assisti
Quem Tem Medo de Virgínia Wolf,
há quinze anos, o Coliseu estava lotado e a gente percebia que era um nível diferente de pessoas, que discutiam teatro, que entendiam. Não é como
agora que se vai ao teatro para rir porque a situação aqui fora está tão ruim, abafada, sufocante, que precisamos ir ao teatro para rir, sem pensar
em nada.
A platéia tinha uma outra postura não só no vestir, mas no
conversar. Você sentia o respeito das pessoas, que o lugar era importante.
Não consigo me lembrar de alguma peça atual que tenha me
marcado. No entanto, lembro de Bent,
Gota d'água,
Muro de arrimo,
como peças que me marcaram, me passaram uma forma de ver a vida, uma filosofia. Acho que esse é o ponto fundamental do teatro: a reflexão. E hoje só
temos o lado do prazer, da diversão, do relaxar, do não pensar. A televisão e o cinema passaram a ser um mercado de consumo e cada vez mais nos
perdemos, porque deixamos de refletir sobre a nossa própria vida.
A luta pela
subsistência também favorece a procura de um tipo de diversão que não faça pensar. E é interessante do poder que tal aconteça,. Se começarmos a
refletir, veremos que podemos mudar muita coisa.
Maria da Glória Tinoco.
Carmelinda – É um dado sociológico importante. A qualidade de vida
que a cidade tinha na década de 20 e a qualidade de vida hoje. Levantamos agora três coisas que considero fundamentais: a interferência da nova
mídia, a televisão e cinema, em relação ao teatro; a imposição que a mídia televisão está fazendo ao teatro, aí já de forma direta com a produção de
espetáculos ligeiros, feitos ao redor do ator global e aí já há outro enfoque para o estudo do mito dentro do teatro; as condições sócio-econômicas
da cidade durante esse período.
Foi sem dúvida o Festival de Teatro dos Estudantes, que
Paschoal Carlos Magno realizou em Santos em 1959, uma das grandes marcas que o Teatro deixou em minha formação. Claro está que a distância que nos
separa não deixa a memória muito nítida em relação ao que foi visto ali, mas (hoje sei) a estréia de Fernand Arrabal no Brasil, pelas mãos de
Patrícia Galvão, junto com Paulo Lara, a célebre montagem de
Fando e Liz,
abriu um veio profundo e uma ligação que se perpetua até hoje.
Não vou dizer aqui, saudosamente, que "aqueles eram bons
tempos", porém devemos ter a clareza que refletiam – os anos 60 – uma situação que depois se perdeu com a atuação da Ditadura Militar de 64 e a
deformação do currículo escolar. Havia qualidade tanto em quem produzia culturalmente quanto em quem estava na platéia para desfrutar dos
espetáculos que passavam, principalmente pelo Teatro Coliseu, também pelo então novo (e hoje desaparecido) Teatro Independência
e ainda ocupavam o palco do Teatro Rádio Clube, que era a "meca" do teatro amador.
Foi nesses espaços que pude ver, por exemplo,
Entre Quatro Paredes, de Jean Paul Sartre, pela Cia. Tônia, Celli e Autran, que me deixava, naquele final dos anos 50, sem respiração. Lembro que a produção
atingia tudo, da comédia de costumes, como Chapéu de Palha da Itália,
de Gastão Tojeiro, ao Auto da Compadecida,
outro forte encantamento com o texto de Ariano Suassuna, com a Cia. de Cacilda Becker. Lembro também que a
cidade recebia sucessivas visitas da Escola de Arte Dramática, que nos trouxe desde
Bodas de Sangue, com a formanda Aracy Balabanian, até Os Persas,
de Ésquilo, com direção de Maria José de Carvalho.
Esse quadro ganhou novos contornos com a vida universitária
participante e agitada dos anos 60. Havia a produção local, com o TEFFI, Teatro Escola de Filosofia, que montou, entre outros,
A Falecida,
de Nelson Rodrigues, como também contávamos com a atuação dos Diretórios Acadêmicos como agentes teatrais, responsáveis, por exemplo, pela vinda a
Santos de Cemitério de Automóveis,
de Fernand Arrabal na célebre montagem de um mestre do teatro, Victor Garcia, ou outra produção universitária também famosa, como
Morte e Vida Severina, de João Cabral de Mello Neto, montagem do Tuca, com a música do estudante Chico Buarque de Hollanda.
Importante colocar também que a produção local era
riquíssima a nível de teatro amador. Tínhamos então uma série de grupos que eram conduzidos por competentíssimos diretores como Nélio Mendes, Walter
Rodrigues, Carlos Alberto Soffredini, e na Federação de Teatro Amador um homem a quem se deve, merecidamente,
atribuir a razão de toda aquela efervescência, Carlos Pinto.
Para se ter uma idéia do conceito que desfrutavam esses
amadores, eles trouxeram a Santos, para suas estréias – o Teatro Estudantil Vicente de Carvalho (Tevec) – os principais críticos de teatro de
jornais importantes como O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil. Eram eles Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi, Jefferson Del Rios, Ían Michalacki. Esses amadores, porém, montavam textos inéditos de
Jorge Andrade – As Confrarias; Leo Gilson Ribeiro – A Balada de Manhattan.
Mas também visitavam os clássicos em montagens inesquecíveis
com Electra e Prometeu Acorrentado, nas mãos de Soffredini. Nélio Mendes, por sua vez, criou com o excelente cenógrafo e figurinista Ademir Fontana, demolidoras versões
para Pic-Nic no Front, outra vez de Arrabal, ou ainda Doente Imaginário,
de Molière.
Nesse período, os amadores puderam contar com o apoio
decisivo do jornal Cidade de Santos,
onde ocupei as funções de editor de arte e também de crítico teatral, podendo desenvolver toda uma política de apoio promocional a esses
espetáculos, garantindo a eles um público permanente e interessado, que acorria a ver todas as montagens, entre as quais, é bom citar, uma belíssima
montagem de Walter Rodrigues para A Farsa do Mestre Pathelin e também Panorama Visto da Ponte,
de Tennessee Williams, esta última apresentada no recém-inaugurado Teatro Municipal de Santos.
Esse panorama
manteve-se até o início dos anos 70, quando a repressão, a censura e a demolidora atuação da direita que sustentou a ditadura militar conseguiram
amordaçar esses produtores que, agora, neste final de anos 90, parecem estar, felizmente, voltando à cena.
Roberto Peres.
Não tenho muito a acrescentar em relação ao teatro e sim à
grande visão artística que a gente procura dar nas coisas, que é uma visão plástica, inteiramente material. Em início de carreira fui contemporâneo
de Ney Latorraca no teatro do Colégio Canadá em
Pluft, o Fantasminha. Entrei para substituir um maquiador. A experiência foi extremamente válida. No terceiro espetáculo, dirigido por
Serafim Gonzalez e cenografia do Fritz, cunhado dele, recebi uma crítica assim: "Menos tijolinho na cara dele
(Ney)", disse o Serafim. Só isso. Fiquei furioso. Mas foi um grande desafio e em 21 apresentações fiz 17 "make-up" diferentes no elenco. E na última
apresentação havia 4.000 pessoas no ginásio do Atlético para assistir teatro infantil. Isso era inédito em Santos.
Foi minha primeira experiência em teatro. Eu era muito
jovem. Esse gosto pelo teatro, essa semente foi plantada no Colégio Canadá, onde estudei e foi uma das épocas mais importantes da minha vida. Mudei
para São Paulo mais tarde e continuei a fazer teatro amador juntamente com o Nélio, a convite dele, porque éramos muito amigos.
Eu era mais intrigante do que ele. Quando eu não gostava da
linha de direção que ele ia dar eu falava: Ou você faz, ou você vai ou racha. Foi o caso do
Pic-Nic no Front.
Para Santos, o teatro do absurdo ainda era uma coisa completamente descartada. Daí o telefone ser uma caixa de descarga, o cesto do pic-nic ser um
vaso sanitário. E aí foi TFP, polícia, polícia federal, Dops, querendo saber o que eu ia fazer, porque o uniforme era cor-de-rosa.
Eu sempre fui muito preocupado com o cromatismo, com a cor.
E o desafio anterior tinha sido muito grande com Sonhos de Uma Noite
de Verão. O que eu mais fiz dentro dessa coisa toda foi emprestar um espírito que, além de ser aventureiro, seria também um espírito de renovação.
Até hoje procuro levar até as últimas conseqüências este trabalho de pesquisa.
A experiência do Nélio, inédita no Brasil, era contemporânea
de uma na Polônia que foi fazer um espetáculo todo gravado e dublado como ele fez no
Pic-Nic no Front.
Logicamente que as realizações não eram perfeitas e nem a tecnologia permitia isso, mas tudo era válido naquela vontade de criar, de passar a noite
acordado pintando pano.
Atualmente faço Carnaval. A carga de
responsabilidade do carnavalesco fica igual à do diretor, do cenógrafo, porque a gente fica responsável por coisas das quais o ator fica distante.
Para realizar o Carnaval deste ano tive que estudar a história de Santos. E me entristece um pouco ver que a parte cultural da cidade está
abandonada há muitos anos.
Depois de
Pic-Nic no Front
nós éramos os mais procurados, embora não premiados.
Critiquei a cenografia de
Eletra
salientando todos os outros valores: atores, direção do Soffredini, texto. Isso me valeu um convite para reformular o cenário para a apresentação no
Festival Estadual. Bolei a cenografia e não acompanhei o trabalho porque já fazia Arquitetura em São Paulo, no Mackenzie.
O espetáculo foi realizado no Sesc Vila Nova e quando saí do
Mackenzie vi uma faixa anunciando Eletra
com um grupo de Santos e na faixa técnica o meu nome. Fui assistir e como a cenografia era apresentada antes, pelo movimento das luzes, foi
aplaudida de pé por Ziembinski e Sábato Magaldi, que faziam parte do júri. Aí chorei. A peça venceu o festival com vários prêmios, inclusive a
cenografia.
Há três anos dei aulas de cenografia no
Colégio do Carmo e procurei transmitir a meus alunos esse espírito de batalha, de saber que as coisas não caem do céu e
que podem ser elaboradas do nada. Quanto ao desfile de Carnaval, para mim é teatro vivo, teatro de rua. A escola de samba abrange tudo isso, o
mambembe, a cenografia, o figurino.
Enfim, a sensação de
ser santista é um sabor de bala.
Ademir Fontana.
TEVC – Teatro Estudantil Vicente de Carvalho
Formado em 1953 no Colégio Canadá, tornou-se um grupo
independente, realizando trabalhos até a década de 70.
Mas foi na década de 60 com a presença de Carlos Pinto à
frente da Federação Santista de Teatro Amador que houve a união dos 20 grupos amadores que existiam na época e conseqüentes participações em
diversos festivais. Isto gerou a competição e automaticamente maior empenho.
O TEVC (Teatro Estudantil Vicente de Carvalho), Persan,
Tic, Teatro Estudantil de Pesquisa, Teatro Estudantil de Vanguarda, Teatro da Verdade e Informação, Teatro Experimental dos Universitários de
Santos, Movimento de Teatro Independente, TEFFI, Nélia Silva e seus Saraus, Horácio Gonçalves, Sérgio Rovito, aliados à grande busca também nas
artes plásticas com Beatriz Rota-Rossi, Luiz Hamen, Jura e outros, conseguem marcar o período como um dos mais
fecundos da estória da cidade.
Nessa época, as companhias profissionais, especialmente em
66, começaram a olhar com maior interesse o público santista e as promoções aqui realizadas. Ninguém podia negar que havia sido dado um grande salto
na emancipação da arte cênica em Santos.
Os espetáculos surgem como pontos altos dentro de um
movimento que permaneceu sempre intenso, oferecendo cênicas e um verdadeiro laboratório para autores.
O público na maior parte das vezes correspondia a esse
trabalho, embora ainda tenha ficado muito a dever a esses atores, diretores, cenógrafos, figurinistas etc., que tinham a separá-los dos
profissionais apenas o fato de não receberem cachês ou salários por seus trabalhos.
Acontece que exatamente por isso os amadores podiam se dar
a liberdade, entre aspas, dos autores, sem olhar para bilheterias e ainda ousar cenicamente em suas concepções, funcionando como um laboratório
dramático que muitas vezes foi alimentar o profissionalismo.
Quando falamos liberdade de escolha, entre aspas, é porque
vivíamos momentos terríveis na revolução de 64, quando não só desapareceram muitos intelectuais, como havia a tensão dos familiares, as torturas e
conseqüentemente a CENSURA.
Entre os trabalhos realizados pelo TEVC, destacamos:
Grandes Momentos de Gil Vicente,
que recebeu o prêmio de melhor espetáculo de 67, além de coadjuvante feminina para Lenimar Rios, melhor direção para Paulo Jordão e Eliana Rocha
como atriz.
A Paz,
de Aristófanes, com a direção de Walter Rodrigues, As Confrarias de Jorge Andrade com a direção de Wilson
Geraldo, Sang City
de Nery Gomes de Maria com a direção de Emílio de Biasi, Lugar de Padre de Regina Helena com a direção de Afonso
Gentil.
Entre os atores que tanto brilho trouxeram à cidade
queremos citar: Paulo Novaes, José Roberto Arduim, Luciana Paola Mantovani, Rogério Godinho, Jair Dicastro, Cláudia Ribeiro, Jairo Moura Leão,
Sérgio Gomes, Teresinha Tadeu, Juarez Semog, Alcidio Barbosa, Maria Renilda, Luiz Hipólito, Lizette Negreiros, Cleide Eunice, Carlos Lima, João
Carlos Pereira, Carlos Gilberto, José Ronaldo, Heraldo Souza, Maria Tereza Alves, Luiz Sérgio, Marlene Peres, Adolfo Andrade, Fernando Rocha, Hélio
Cícero, Carlos Guedes, Carlos Alberto Lima, Carlos Ferreira, Ana Mantovani, Walter Appas etc.
Todo esse movimento foi se esvaziando e os grupos
praticamente desaparecendo não só pelas conseqüências de 1964, mas também pela ida de alguns amadores para o profissionalismo em S. P.
Em 1977, o TEVC ainda volta à cena para mostrar a montagem
de Panorama Visto da Ponte
de Arthur Miller, com direção de Walter Rodrigues, mas também acaba fechando
suas portas.
PERSAN – Grupo Teatral Perspectiva de Santos
Foi criado em maio de 1967, tendo estreado numa
terça-feira, em 1967, no It Clube, Av. Bernardino de Campos, com a peça de Antonio Calado, Pedro Mico, considerada uma de suas melhores
obras.
O Persan surgiu de um bate-papo entre Gilberto Molinari e
Jorge Elias, que tiveram a idéia de formar um grupo que trouxesse novas perspectivas para o teatro santista. Convidaram Florence e Otto Buschabaum,
dois diretores europeus com experiência, tendo Otto feito as letras e Florence as músicas do espetáculo.
Pedro Mico
narra a estória de um marginal refugiado num morro de nome Catacumba e o texto busca semelhança com o herói negro Zumbi dos Palmares, trazendo em
seu elenco: Lizete Negreiros, Gilberto Molinari, Teresinha Tadeu, Jorge Elias, Cleide Eunice Queiroz, Cláudio Coutinho, Aloísio Ribeiro, Osmar Assis
Ribeiro e integrantes da Escola de Samba: Nego Wilson, Manga e Maurício. Liderou por cerca de mais de um ano a campanha de Teatro de Encontro ao
Povo, tendo se apresentado em todos os morros santistas, São Paulo, litoral, porta-aviões, tendo sido notícia até em revistas internacionais.
A
década de 70
Na década de 70, o teatro de Santos não mais contava com a
influência benéfica de Patrícia Galvão, nem com seu espírito empreendedor ou com seus artigos e críticas estimulantes publicados no jornal
A Tribuna. Os grandes nomes do teatro
santista das décadas de 50 e 60 já não mais trabalhavam aqui. Alguns se profissionalizaram e seguiram seus caminhos, enriquecendo a cena nacional;
outros, cansados de tanto lutar, sem qualquer apoio oficial ou mesmo reconhecimento, simplesmente desistiram.
Mas nosso teatro não estava morto. Talvez estimulado pela
bela herança dos anos 50 e 60, novos nomes começaram a se destacar no cenário local. Atores, diretores e dirigentes de entidades de teatro amador
conseguiam colocar no palco espetáculos importantes, bem feitos, aos quais se dedicavam por inteiro, sacrificando descanso pessoal e família para
ensaiar, pesquisar, mergulhar no mundo mágico do teatro. Lembro-me de ver atores costurando figurinos nos intervalos dos ensaios, gente faltando ao
trabalho para repassar cenas ainda não muito firmes, ensaios realizados em barracões, amadores tirando dinheiro do próprio bolso para poder colocar
o espetáculo no palco.
Era um tempo de sacrifícios e dedicação, que resultava em
um trabalho fértil, rico e criativo. Santos se destacava em todos os festivais de teatro realizados a nível estadual e nacional. E, melhor de tudo,
os amadores de então tinham em mente seu papel de pesquisar, buscar novos caminhos, novas linguagens. Via-se no palco até espetáculos de vanguarda,
mas com efeitos e resultados belíssimos que chegavam a empolgar a platéia.
Vários espetáculos se destacaram no final da década de 60,
início dos anos 70. Mas lembro-me especialmente – na época era repórter do jornal
Cidade de Santos
– das seguintes peças: A Paz,
de Aristófanes, montada pelo Tevec, sob a direção de Walter Rodrigues em 1970. Em 1971 – outros grandes espetáculos surgiram:
Pedreira das Almas, de Jorge Andrade, pelo Teatro
Estudantil de Novos, dirigida por Wilson Geraldo, e O Traído Imaginário, de Molière, pelo Teatro do Clássico,
dirigida por Nélio Mendes.
Em 72, Carlos Alberto Soffredini estourou com
Prometeu Acorrentado,
de Ésquilo, um espetáculo belíssimo. No mesmo ano, outra encenação de Wilson Geraldo dos Santos, que dirigiu no ano seguinte
As Confrarias, de Jorge Andrade, pela primeira vez
encenada e assistida pelo autor. E, ainda em 72, Walter Rodrigues dirigiu o polêmico
Z.
Todos esses diretores citados, ao lado de outros nomes e
de uma série de excelentes atores – não os cito por medo de esquecer algum nome, o que seria muito injusto, uma vez que tínhamos verdadeiros
talentos atuando no teatro santista – eram uma espécie de garantia da boa qualidade do teatro santista. A produção teatral local era ampla,
constante e de boa qualidade. A mensagem política, a denúncia de problemas sociais eram feitas de maneira criativa, atingindo seus alvos.
Outras peças se destacaram, além das já citadas, mas
depois, o teatro de Santos entrou no estágio onde praticamente está até hoje: boas montagens que surgem esporadicamente – sem garantir a produção
constante -, alguns prêmios conquistados em festivais, valores novos revelados. Mas nunca mais volta a existir um movimento teatral forte e
contínuo, como esse da década de 70, em que diretores, atores e pessoal técnico podiam ser comparados aos melhores do teatro profissional,
trabalhando por amor ao teatro.
Hoje temos dirigentes teatrais amadores lutando para fazer
permanecer vivo o teatro santista, enfrentando falta de apoio oficial e falta de interesse dos próprios amadores. Há muitas atrações para os jovens,
superando o interesse pelo teatro. Na época de ouro da década de 70, é justo que se destaque, também, o trabalho do dirigente Carlos Pinto, à frente
da Federação Santista e da Confederação Estadual de Teatro. Briguento, poucas vezes amável, Carlos Pinto foi, no entanto, um leão lutando pelo
teatro.
Depois desse
período de ouro, tive oportunidade de acompanhar o teatro feito em Santos, já que fui trabalhar no jornal A Tribuna, onde exerci a função de
editora de Artes. Ali pude ver o surgimento de bons valores, pessoas abnegadas trabalhando para concretizar o sonho de fazer u bom teatro. Sem a
vitalidade das épocas anteriores, no entanto, esse trabalho tornou-se esporádico, mas manteve viva a tradição do teatro santista.
Pelo mesmo motivo
já citado anteriormente, não destaco nomes nesse período, com medo de esquecer algum. Mas o movimento teatral amador pode ser conferido nas coleções
dos jornais A Tribuna e Cidade de Santos – este, naturalmente, até o encerramento de suas atividades.
Ana Maria Sachetto
Editora de Artes do jornal
A Tribuna
neste período
30/9/94
Studio 800, um grupo underground
Nos anos 80, um espaço alternativo foi criado em Santos
por pessoas ligadas ao movimento artístico da cidade. Funcionou aproximadamente entre 1980 e 1983, como uma manifestação independente, sem nenhum
apoio oficial e pouca divulgação. Um espaço ligado à experimentação e à pesquisa.
Depoimento de Célia Abadia:
Ficava na Siqueira Campos 800, por isso chamava Studio 800, dirigido por Valdir Sione Toni Vieira. Foi um lugar de
encontro não só do pessoal do teatro, mas de arte em geral: pintura, dança, bordado, a turma do Morro da Nova Cintra com seu Festival de Cantadores,
o grupo de Itapema que o Juan Uviedo buscou, o mestre Toninho, o mestre Neguinho. Eles vinham, falavam...
Uirivani: A professora Meire Berti me convidou para ir, dizendo
que era um lugar para as pessoas que não tinham apoio oficial apresentarem seus trabalhos. Eu fui, conversei com um dos diretores, mas não mostrei
nenhum trabalho, porque eu achei meio..., fiquei com um pouco de medo da coisa.
Célia Abadia: Exato, era uma coisa muito alucinante.
Carmelinda: Provavelmente porque ocorre no momento do final da Censura, quando em todo o Brasil surgem movimentos de recuperação cultural. Ainda sem
uma dramaturgia, sem linhas definidas.
Célia Abadia: Exato. É uma aglutinação de todas as artes independentes, tudo totalmente independente. As pessoas iam. Não tinham aonde morar, moravam
ali mesmo. Não tinham o que comer, comiam ali mesmo. Lavavam a roupa ali, brigavam ali.
Carmelinda: Um "Living Theatre", na Festa de Final de Ditadura.
Célia Abadia: Foi literalmente isso. Porque era um ponto nada ortodoxo. Vivia em ritmo de Juan Uviedo. Que era um diretor argentino, trazido pela Ruth
Escobar para encenar Caixa de Cimento (1979), um dos criadores do Café La Mamma em Nova Iorque. Depois de fazer a peça em São Paulo ele veio para Santos e ficou muito tempo no
Studio 800. Parece que hoje ele vive em São Tomé das Letras. Uma coisa alucinógena mesmo. Fizemos com ele
O Inferno de Dante, que depois foi apresentado na Fortaleza da Barra. Fazíamos laboratórios fantásticos, ele era
psicólogo e trabalhava com idéias de Reich, Jung. No elenco estavam Manoel Pereira, Felipe que agora faz dança no grupo Cisne Negro de Minas, Kátia
Fonseca, Ana Uviedo, Paulo Batista.
Carmelinda: Como você vê os rumos que o teatro amador está tomando aqui na Baixada, voltando a ter uma ordem administrativa mas ainda sem identidade,
procurando em determinadas figuras que pertenceram ao movimento nos anos 60 uma referência ainda indefinida? Mas neste Studio 800 que você está nos
falando parece que existiu um fulcro de reflexão forte. Você não percebe que hoje o teatro amador está um pouco estagnado, como que encampado pela
burocracia?
Célia Abadia: Eu acho que se perdeu... a efervescência sumiu. Existe ainda na essência de cada um, mas hoje ela não trespassa. As pessoas não se dão.
Não se jogam como nos jogávamos naquela época, com tudo, inclusive com o corpo.
Carmelinda: Observo, um pouco à distância, talvez por isso um pouco melhor, a ausência de lideranças na Baixada Santista para conduzir o potencial
criativo dos grupos.
Célia Abadia: Esse papel de liderança que, por exemplo, era uma das coisas fundamentais na figura do Tanah Correa,
do Carlos Pinto, do Paulo Lara, do Greghi Filho, de pessoas totalmente agitadas como a Pagu podem dar sustentação para continuarmos. Nós tínhamos
esses pontos que ainda hoje são as referências. É uma coisa nata. O Tanah, por exemplo, é uma pessoa que tem facilidade de aglutinar e direcionar:
"Vai lá, faz isso". É uma coisa dele.
Carmelinda: Mas também corresponde a um período político. O que acontece hoje (1994) no teatro amador da Baixada, que estamos vendo, é o que acontece
politicamente no Brasil todo. Voltamos a engatinhar no período da ditadura. Agora estamos tomando novamente o destino em nossas mãos. Então está
havendo um reencontro com a responsabilidade. Houve um período de caos criativo que, me parece, foi o Studio 800.
Agora estamos tentando uma retomada de caminhos. É o que
vemos dentro da Oficina Cultural Pagu (Cadeia Velha) e também no Festa, Festival de Teatro Amador, embora ainda não exista um caminho claro de
liderança natural, existem pontos de efervescência, de interesse: a juventude que vem fazer cursos na Oficina Cultural, que apresenta espetáculos no
Festival. O movimento ainda não encontrou um caminho claro, mas está vivendo um momento nacional. Eu gostaria de saber, para você, Célia Abadia, o
que o teatro representou em termos de crescimento?
Célia:
Para mim como pessoa, não sei se posso passar para alguém, porque é muito profundo, dolorido, ao mesmo tempo fantástico. Eu nasci órfã de pai (meu
pai era índio e morreu de resfriado), filha de mãe analfabeta, negra. Vim para Santos, com 9 anos de idade, porque sou mineira e como todo mineiro
tenho paixão pelo mar. Cheguei aqui num dia e no outro estava estudando no Grupo Escolar Barnabé, uma escola maravilhosa,
do Governo, escola pública. Aprendi com as professoras a ler pequeninha, miudinha, mas terrível, porque com ela aprendíamos de tudo: a cantar, ler,
interpretar, escrever redações. Me apaixonei pelo mundo da fábula. Comecei a escrever e um dia fiz uma redação,
Um Dia de Sol, que a Rosinha Mastrângelo leu na rádio Atlântica porque foi
considerada a coisa mais bonita da escola. A rádio Atlântica era em frente ao colégio, perto do
Palácio da Polícia. Hoje é um estacionamento... Já não dá mais pra falar, começa a mexer em tantas coisas por dentro, que dá vontade de
chorar...
Carmelinda: Você fez Faculdade de Filosofia.
Célia: Eu estou fazendo Letras, já poderia ter
concluído o curso, mas tive problemas de falta de dinheiro. A faculdade é particular. Então fui reprovada. Agora estou repondo a carga horária
porque mudou para universidade. Quando entrei na faculdade, com 22, 23 anos, eu queria ler, entrei para o curso de Letras para ler. Não sabia da
importância do diploma. Entrei muito no sonho, mas existe também a parte burocrática, que é uma questão do ensino.
Carmelinda: É o que chamo o segundo vestibular de uma faculdade, onde aprendemos as regras do sistema.
Célia:
Muitas destas regras eu desconhecia totalmente, porque nasci numa cidade que tinha um rádio e eu morava bem afastada, no mato. Para ir à escola ia a
cavalo, quando as vacas não impediam. E nós passávamos a manhã inteira em cima das árvores. Então eu vim do sonho, com um tio que tinha o terceiro
ano primário, e não tive orientação nenhuma. Fui parar na faculdade porque queria ler. As coisas vão se acumulando porque como você não sabe o que
está fazendo, não sabe a quem recorrer, não sabe como falar. Nesta área a importância do teatro foi fundamental...
Motim
O Grupo Motim começa no início dos anos 70, sob a direção
de Tanah Correa que o conduz até 1976. Depois passa a ser dirigido e administrado por Bruna Gama e mais tarde por Célia Abadia. Encenaram entre
outras peças: Pai e Mãe D,
direção de Tanah, Um Lobo na Cartola, direção de Iara Nascimento,
A Grande Estiagem. As peças ficavam muito tempo em
cartaz, percorrendo vários espaços, se apresentando em todos os municípios da Baixada.
Este grupo, como outros do mesmo período, tem origem numa
oficina realizada na Cadeia Velha, antes de ser transformada em Oficina Cultural Pagu. Foi a 1ª Oficina Cultural de Artes Cênicas que foi como uma
grande retomada do teatro santista. Reúne Neyde Veneziano, Tanah Correa, Nélio Mendes, Elisa Correa, Wilson
Geraldo, Belarmino Franco, Nelsina Franco, Carlos Pinto.
Eu peguei bem
no final o grupo Opção, que surgiu praticamente dentro do Motim, fundado pelo Luís Sérgio Vasques, Maurício, Edivaldo, Francisco Pereira, Olavo
Tadeu, Iara Nascimento, Carlos Kaucim. Se não me engano em 1974 eles fizeram Tic-Tac, que foi um êxito e venceu vários festivais de teatro
amador do Estado de São Paulo. Em seguida vieram o grupo Tecas e o TVG do Vasco da Gama. Minha formação foi toda com este
grupo. Eles fizeram, entre outras, Guará do Lago Encantado. Todos estes grupos são conseqüência da 1ª Oficina Cultural de Artes Cênicas.
André Lehaum
Eu venho de uma família teatral: Elisa Correa, Tanah Correa. Essa coisa está no sangue. Com 17 anos fui dirigir teatro nas
fábricas do Cubatão, na Indag, da Ultrafértil. Era o trabalho da Sipat,
de Prevenção de Acidentes. Escrevia e dirigia textos e o pessoal gostava de fazer e assistir. Oura ocasião montamos um texto a pedido do Ibama sobre
a desova da sardinha, apresentado no Sindicato dos Metalúrgicos. O André Lehaum me ajudou. Mas havia uma cena de arrastão e eles mandaram engradados
cheios de sardinha, mesmo, para fazer a cena, elas caíam da rede, foi uma bagunça.
Vanessa Campos.
Teatro Independência
O teatro Independência foi inaugurado em 1958.
Pertencia à empresa Dias Marcelino e foi criado no local destinado a ser a garagem do edifício. Foi feito um acordo entre os construtores e o
prefeito Sílvio Fernandes Lopes, autorizando a construção do teatro. Foi um espaço destinado às companhias profissionais,
algumas vezes alugado para amadores.
No ano da inauguração se apresentaram as peças:
O Auto da Compadecida, de Ariano
Suassuna, pelo teatro adolescente de Recife; Infidelidade em Petit Comitê, da empresa teatral Comédia
do Rio; Rua São Luís, 27,
do TBC; Do Tamanho de Um Defunto,
produção de João Pestin; Quando as Paredes Falam, Cia. Nídia Lícia e Sérgio
Cardoso; Sociedade em Baby Doll,
do Teatro Moderno de Comédia; Papai é Vivaldino;
A Hora Marcada, do Teatro Novos Comediantes;
A Raposa e as Uvas,
pela Cia. Nídia Lícia; A Revolta dos Brinquedos,
do Teatro Infantil Permanente; A História do Brasil pelos Jograis de São Paulo.
Ao todo 32 espetáculos se apresentaram neste ano.
Inclusive Fando e Liz, estréia mundial do texto
de Arrabal, dirigida por Patrícia Galvão e Paulo Lara. Mais tarde o teatro foi muitas vezes usado por grupos da cidade como Os Independentes e o
TEFFI. Hoje funciona no local uma discoteca.
Gextus
Consideramos o Gestus como o resultado do Pinta o Sete
Companhia, com a qual montamos A Árvore que Andava,
de Oscar von Pfuhl. Sou a única do elenco que foi até o fim do Gextus. Tínhamos três rapazes e os três já
morreram de Aids, o que acho uma coisa muito triste. Começamos com essa montagem da
A Árvore que Andava e fizemos muitas escolas.
Montamos o
Procurando Firme
pela primeira vez, eu e a Renata Zanetta e outros integrantes, resquícios da
A Árvore que Andava.
Depois a Renata ficou grávida e não podia fazer uma princesinha chamada Linda Flor com um barrigão. No último espetáculo ela já estava de quatro
meses e foi muito engraçado, uma princesa gordinha.
Aí a Neyde foi convidada para fazer o projeto Sesc. A Renata
foi junto como assistente de direção e eu fui para São Paulo. Fiz muitos cursos e percebi a pérola que tínhamos na mão
– o Procurando Firme. Remontamos o espetáculo já com o pessoal
do Sesc, com o nome Projeto de Teatro Santos.
Depois a Neyde montou
O Noviço
e Jeremias o Herói
e começou a ter acesso aos festivais. E ganhávamos prêmios e mais prêmios. Em Tatuí ganhamos sete dos treze prêmios do festival. A Neyde ganhou o
prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e eu, a Renata, o Marco Antonio e a Neyde fomos indicados para o Mambembe, que eu ganhei.
Desse grupo de teatro do Sesc, os que se profissionalizaram
foram o Charles Moeler, figurino e cenário, e Dagoberto Feliz, música.
O
Procurando
misturou com O Noviço
e eu acabei substituindo também no Jeremias. A Neyde resolveu se aprofundar no estudo do teatro brasileiro e montamos o
Revistando o Teatro de Revista, baseado no trabalho de pesquisa dela, inesquecível para nos pela trabalheira, pela choradeira, pelo amor que se criou entre as pessoas.
Foi um negócio muito forte. Nós nos gostávamos muito e ninguém era só ator. Tinha um ator, o Pinduca, que se não fosse ele a
Revista
não saía.
Eu fazia uma vedete que descia numa casca de banana
pendurada numa corda e se não fosse o Pinduca a segurar a corda eu não tinha coragem de subir. Fazíamos produção, íamos arás de coisas do arco da
velha. E tivemos muito apoio, principalmente na parte de marcenaria, tão necessária no teatro de revista, porque há muita escadaria. E o Sesc nos
deu a madeira e o trabalho de marcenaria.
Com o apoio da UniSantos passamos a
nos chamar Gextus – Grupo Experimental de Teatro UniSantos. Nos deram todo o apoio gráfico e a logística. Eu telefonava para todos os jornais,
mandava os releases que eles produziam, os xerox, as cópias, as fotografias. Eu usava o telefone para os interurbanos. Nas outras montagens eu tinha que
ficar em São Paulo, "emprestada" na casa de alguém, para fazer esse trabalho, para buscar patrocínio, fazer a divulgação e vender o espetáculo para
escolas.
O
Procurando
foi uma trabalheira. Ensaiávamos a Revista
e tinha o Procurando Firme em cartaz em São Paulo. Saíamos direto para São Paulo quando terminava o ensaio e entrávamos em cena direto, sem jantar. Para poder
estrear o Procurando,
pagamos três meses de aluguel atrasado do teatro, tal a nossa paixão. Às vezes não tinha luz porque não pagavam a conta. Aí o Pinduca subia no poste
e roubava a luz do vizinho para poder fazer o espetáculo. O cenário tinha que ser montado e desmontado. Eu tinha que varrer o teatro. Era uma
loucura.
O
Revistando
não. Era um espetáculo cinco estrelas. O Procurando era bem mambembão. Não sei como o cenário cabia no meu Uno. Mas gostando e querendo a gente faz qualquer coisa.
É difícil dizer
quanto tempo duraram os ensaios do Revistando porque estávamos ensaiando um texto do Dario Fó que ia ser apresentado em Campinas, com os alunos da Neyde naquela cidade. Tivemos aula
de mímica com Eduardo Coutinho e aula de circo com o Monteiro.
Valentina Rezende
Numa tarde de quarta-feira, em 1974, uma colega de escola me
convidou para fazer um teste no grupo de teatro do Clube XV. À noite do mesmo dia lá estava eu, aprovada, para trabalhar
sob a direção de Belarmino Franco. Recordo de cada detalhe desta noite em que descobri por que vim ao mundo. Era como se os deuses do teatro
responsáveis pela magia que nos envolvia a todos estivessem abrindo os portais do sonho que move minha vida na arte até hoje.
Participei então do espetáculo
A Máquina do Tempo, de autoria e direção do Belarmino. Já nesta época fazíamos aulas de acrobacia, dança, estudávamos história do teatro e de outras
manifestações artísticas. O grupo cresceu muito e foi dividido em dois núcleos: um sob direção ainda de Belarmino e outro de Tanah Correa.
Participei do segundo já com o nome de Motim (Movimento de Teatro Independente), encenamos
Abre Alas Deixe o Teatro Passar
e A Grande Estiagem.
Nesta altura estamos em 77, final de ano, vestibular, sofrimentos, êta idade difícil! Acabei optando por fazer Psicologia e afastei-me do teatro.
Mais por falta de informação sobre escolas de arte, por pressões familiares e pela crise em que o grupo estava, do que por vontade de ser psicóloga
e não atriz.
Troquei o palco pelas assembléias do movimento estudantil.
Foi sem dúvida uma experiência muito rica, mas assim que terminei a faculdade em 82, voltei correndo para o teatro. Trabalhei em
O Rei e o Jardineiro, sob direção de Elisa Correa. Logo depois recebi um convite para integrar o grupo Pinta o 7 e Cia., que fez
A Árvore que Andava
e Procurando Firme,
sob direção de Neyde Veneziano. Este grupo foi mudando de nome, mas mantendo sempre um núcleo que trabalhava muito com vistas à profissionalização.
Vinculado ao Sesc de Santos, realizou a 2ª montagem de Procurando
Firme, Revistando o Teatro de Revista e A Miúda Alegre. Enquanto preparávamos os espetáculos, e em função deles, tínhamos aulas de mímica, dança, canto, técnicas circenses e estudávamos para
que pudéssemos nos aprimorar.
Hoje, com um
dia-a-dia maluco em São Paulo, nessa profissão tão menosprezada pela estrutura econômica e política deste País, acho injusto declarar-me feliz e
privilegiada. Sim, pois consigo a trancos e barrancos, viver "de" e "para" o teatro. Sem pieguice ou profissão de fé. Antes porque foi a carreira
que eu escolhi. Eu Amo o Teatro. Não sei mais viver sem ele. Além do que, tenho a imensa pretensão como artista e cidadã, de contribuir para
mudanças profundas e por um mundo melhor.
Renata Zanetta.
TEP
– Teatro Estudantil de Pesquisa
O TEP, Teatro Estudantil de Pesquisa, surge duma cisão do
Tevec com Prometeu Acorrentado.
O André Luis Galesso machado, que era uma pessoa fantástica, saiu do grupo e montou o TEP por acreditar que a gente deveria ter um trabalho mais
voltado para a pesquisa, mais posicionado politicamente.
Éramos um monte de garotos e garotas adolescentes naquele
final da década de 60, sem muita clareza do que era a questão política que a gente vivia. O reflexo disso foi o primeiro texto montado todo em cima
do Grotowski. Buscávamos uma identificação.
Não preciso dizer que a polícia foi uma seqüência em toda
nossa vida. Ou tínhamos os textos tão censurados que não conseguíamos montar porque estavam mutilados ou nos apresentávamos com a polícia correndo
atrás, cada um fugindo por um canto.
Montamos depois
As Troianas,
numa adaptação do Sartre. E foi marcante. O grupo tinha paixão por tragédias gregas. O André, se pudesse, teria montado todas. Depois tentamos
Ésquilo, montamos Electra,
Os Persas.
Aí a polícia começou a desconfiar. Por que a gente fazia tanta tragédia?
Resolvemos montar Sartre. Lemos
O Diabo e o Bom Jesus e Os Mortos sem Sepultura. Depois de vários meses de pesquisa fomos todos para uma casa e varamos a noite discutindo o existencialismo. Depois disso o André
resolveu montar A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e, como não existia a peça, tivemos que fazer a adaptação.
A Revolução
tinha um cortejo logo no começo e a Marina Amis, primeira presidente do TEP, fazia o
Elogio da Loucura,
de Erasmo de Roterdã, e nós fizemos uma porção de textos. A censura mutilou tanto que ficou sem sentido e não pode ser apresentado.
No fim, a
Revolução dos Bichos
fez uma revolução dentro do próprio grupo, porque nós tínhamos um local, a Rádio Clube de Santos, que era grande escola de teatro de Santos. Vinham
diretores de São Paulo, dirigiam, tínhamos cursos com a Yolanda.
Montamos
Fogo, Terra e Água,
uma coletânea de textos de Márcio Esgrécia, fizemos A Casa de
Bernarda Alba onde a única mulher era eu e as pessoas ficaram aterrorizadas porque todas as personagens eram representadas por homens. O
Gilson fazia o Martírio e o Duda fazia a Louca. Nós sempre fomos revolucionários nessa medida de estar experimentando, de ver como é que é,
vanguardista.
Fizemos depois
Pesadelo,
de Ivo Fernandes, que foi censurada no texto e no visual. Apresentávamos às escondidas. Uma vez, na Federação, o Carlos Pinto veio avisar que a
polícia vinha vindo para baixar o cacete. Saiu cada um por onde pôde e quando ela chegou estávamos fazendo uma reunião da Federação, estranhíssima,
porque a maquiagem não deu para tirar.
O aprofundamento do TEP vem mais da
Bernarda Alba e afunila muito isso no Grão-Vizir,
de Obaldia, com a direção do Marco Antonio Rodrigues. Aí sim, há um posicionamento político definido: o que era o grupo, qual nossa proposta, o que
íamos fazer com aquilo. Fomos com essa peça para o México, num festival em que fomos premiadíssimos.
Tiramos o segundo lugar em cotação popular. Não havia júri.
Era uma mostra do Festival Profissional e foi nos assistir um embaixador brasileiro. Quando voltamos, a peça estava proibida e me valeu três meses
de depoimento na Polícia Federal. Mas estava clara nossa função e o que íamos fazer com o teatro dali para a frente e quão forte era nossa arma.
No México alguém nos perguntou porque não fazíamos Jorge
Amado. Comprei Capitães de Areia
em espanhol mesmo e vim lendo no avião, junto com o Marco que, como eu, tem pavor de avião. Quando chegamos propusemos uma adaptação coletiva que
não deu certo e acabei sendo a responsável pelo resultado final.
Foi muito legal. Todo o pessoal que participou –
Capitães de Areia teve uns dez elencos – leu toda a obra de Jorge Amado para depois poder entender o romance, naquela época difícil em que tínhamos que
driblar a censura.
Foi um marco do teatro de Santos e a partir daí mudamos um
pouco o direcionamento teatral. Fizemos duas montagens infantis:
Para onde foram as bananas e Os Palhaços do Reino Encantado da
Criança. Essas peças eram apresentadas
in loco,
em casas onde havia crianças, nunca para o público em geral.
Quando eu era presidente do Centro dos Estudantes, fizemos
uma criação coletiva sobre Hiroshima e Nagasaki, que recebeu o
nome No Céu Poderão Surgir Bombas ou Pássaros, Tudo Depende de Nós,
apresentada em circuito universitário. Tivemos uma investida em
Fando e Liz, mas acho que nunca ninguém mais vai conseguir montar essa
peça. Sempre aparecem problemas: morre alguém no elenco, alguém casa, fica grávida.
Em 1968 eu era monitora da Delegacia Regional de Cultura de
uma oficina de artes cênicas em Cubatão e estávamos começando
Henfil, a Relativa Revista. Henfil já estava doente, com Aids, resolvemos fazer um show para arrecadar dinheiro para os remédios e a
hospitalização. O Tanah era o secretário de Cultura de Santos e quando conseguimos arrumar o Circo Marinho, Henfil morreu.
Um mês depois da morte dele fizemos a leitura da
Revista do Henfil, que foi um sucesso, com as pessoas que tinham feito a oficina, com direção do Toninho Dantas. E daí começamos a pensar em fazer alguma
coisa pela qualidade do sangue. Conversamos com a dra. Maria José Romiti do Centro dos Hemofílicos da Baixada Santista (Chebas) e fundamos o Grupo
de Apoio e Prevenção da Aids (Gapa).
O lançamento oficial foi no Teatro Municipal, lotado, com o
pessoal da Revista,
a Patrícia Calipso, o Hélio Cícero, o Domingos Fuschini. A maioria do pessoal que tinha participado na montagem original veio também e foi fabuloso.
Em vez de problemas com a polícia tivemos problemas com o Corpo de Bombeiros por causa da superlotação e da falta de alguns requisitos necessários
para a prevenção de incêndios.
Mas conseguimos
apresentar a peça, com uma nova visão, para que fosse uma bandeira de luta sobre o que acontece no país na questão da Aids.
Nanci Alonso.
Acho que o TEP tem fases bem demarcadas, bem delimitadas
quanto ao conteúdo e direcionamento das montagens. Participei de algumas dessas fases e hoje integro o grupo, junto com um novo elenco. Comecei na
segunda, quando estava sendo montada As Troianas,
e nesse momento a gente fazia teatro estudantil no Colégio Canadá com Duda, Zé Manuel e outras figuras que não seguiram a carreira teatral.
O André era uma pessoa apaixonante e a gente acabou
integrando o TEP por causa dele. Ser contra-regra das Troianas
já era o máximo. Na peça seguinte, A Revolução dos Bichos, integrei o pequeno elenco que tinha que viver 40 personagens completamente heterogêneos: galinha, cachorro, porco, burro...
Não tínhamos a consciência profunda do que fazíamos, mas a
intuição de que era muito importante estar realizando aquele trabalho. E porque o André trazia aquela linguagem de experimentação teatral, do "off"
Brasil, do Grotowski, era o máximo viver a última conseqüência do corpo, da possibilidade física: o fato teatral.
Mas não agüentei apanhar do Zé Manoel encarnado Bernarda
Alba e deixei o grupo também por causa de uma pós-graduação em artes plásticas que fui fazer no México e onde trabalhei um pouco com teatro. Aí me
distanciei do TEP e após quatro anos voltei ao Brasil e a Nanci já estava envolvida com o movimento estudantil.
O envolvimento com o TEP não se anula com o distanciamento.
É mais um envolvimento com o fazer teatro, num espaço onde a gente se identifica. Quando a Nanci me convidou para dirigir a leitura do Henfil, eu
retornei definitivamente para o TEP, para a direção, porque nesse momento ela estava criando o Gapa e o TEP serviu de sustentáculo financeiro para a
formação do Gapa. No teatro amador não são os atores que ganham e isso é muito importante enquanto missão, fazer teatro não pela satisfação do ego,
mas para poder servir realmente a uma causa. E o Gapa ganha uma certa independência do TEP na medida em que começa a receber subsídios de outras
origens. É também a independência do TEP quanto ao direcionamento do que fazer, porque existir e o que está buscando.
Então se concretiza outra fase do TEP, similar à primeira no
elenco extremamente jovem, com muita garra para realizar alguma coisa. Mas não é, como antes, um grupo de amigos que ia a todas as portas, fazia
todas as coisas junto, brigava com a polícia e com a família. Hoje não temos um elenco fixo e temos outro objetivo que é investigar, estudar e
aprender a realizar o teatro.
Temos um
comprometimento em querer dizer algumas coisas com montagens que questionam o homem como indivíduo, na sua intimidade. Sendo assim, estudamos a vida
do poeta russo Vladimir Malakovski para tentar entender a paixão. No nosso trabalho atual,
Acorda Amor,
a gente quer saber onde situar a paixão entre os dois universos do amor e da morte, entre Eros e Tanatos.
Gilson de Melo Barros.
Peguei uma parte do TEP logo após
As Troianas,
mas foi por pouco tempo. Só posso falar da experiência a nível de figurino e de cenário. Era difícil porque não havia dinheiro, material, não havia
nada. Então era assim: "Hoje de madrugada a gente vai assaltar a obra do canal 3". Todo mundo ia, olhava para os cantos para ver se não tinha
ninguém e catava alguma coisa. Aí saía correndo com a madeira.
Montávamos
passarelas em cena. A montagem saía precária. Nem podia ser de outra forma. Era toda a dificuldade do teatro amador, sem dinheiro. Roubavam-se
coisas em casa: lençol, vestido velho, brinquedo, para compor alguma coisa.
Duda Varela.
Grupo Uma Mão com Mel
Minha área básica é a música. O teatro foi uma conseqüência.
Em 1980 iniciei carreira no grupo vocal Copos e Bocas, do Sindicato dos Metalúrgicos. No final de 1989 eu dava aulas de música em conservatório,
quando vi um anúncio de um grupo de teatro com Tanah Correa, no Colégio do Carmo.
Entrei, começamos a fazer leitura de peças e em 90
resolvemos fazer uma montagem e criar um grupo. O esquema do Teatro do Carmo seria o seguinte: um grupo fixo com um diretor contratado que mudaria a
cada ano. O primeiro diretor seria o Tanah Correa e montamos
Antígona.
Comecei aos poucos. O que eu queria com o teatro era uma
maior expressão e comunicação com o público, que não se consegue totalmente com a música. Mas aí o Tanah pediu que eu fizesse um fundo musical e no
fim atuava como ator, compositor e diretor musical, tudo isso de janeiro a setembro de 90.
A proposta inicial de fazer um grupo fixo no Carmo não foi
em frente e, em 1991, o curso de Artes Cênicas passou para a Fundação Lusíada. Em final de 92 me desliguei do último grupo vocal que eu tinha, fui
apresentado à diretora Iracema de Paula Ribeiro e contratado para fazer a parte musical de
Lisístrata. Acabei trabalhando como ator. Depois ela montou um musical infantil onde trabalhei como ator e compositor e agora estou como diretor
musical do grupo.
A filosofia do grupo até agora foi montar peças mais leves,
como a comédia de costumes O Diletante,
Lisístrata,
uma das raras comédias da história do teatro grego, e a infantil A
Árvore que Andava, de Oscar von Pfuhl. A partir deste segundo semestre o
grupo vai fugir um pouco deste esquema inicial e montar dois textos de Brecht e fazer outra linha infantil, diferente da atual.
O nome do grupo confunde as pessoas porque parece o
nome de um prato. Uma mão com mel simboliza a ternura humana.
Carmelinda:
Uma Mão com Mel foi fundado em 1976. Encenou 23 peças e é dirigido por Iracema de Paula Ribeiro. Característica do grupo: dramaturgia brasileira e
textos clássicos.
A
Federação Santista de Teatro Amador
Ao começar este depoimento quero ressaltar a importância do
Carlos Pinto para o teatro amador de Santos. Acho que a época que ele esteve presidente da Federação Santista de Teatro Amador foi, para os dias de
hoje, uma base do que o artista deve ter como consciência, mostrando que ele pode ser o porta-voz da evolução dos tempos, retratando e passando a
história do homem para as pessoas discutirem no presente.
Embora eu gostasse muito de ir ao teatro e tivesse feito uma
oficina com Berta Zemmel, a primeira vez que subi num palco foi para prestar exame na Escola de Arte Dramática (EAD). Durante os três anos em que
estudei na EAD, além da base que se obtém pela teoria, tive a oportunidade de conhecer pessoas de teatro como os professores Miriam Muniz, Fausto
Fuzer e Milene Pacheco, que é santista.
Foi um período político muito importante – 1976 a 1978 -,
quando a cidade universitária fervia com os movimentos estudantis. Meu grupo foi o primeiro a fundar um grêmio dentro da escola, participativo,
interagindo através de performances e passeatas nas quais dizíamos textos proibidos, muitos deles surgidos dentro de um ciclo de leitura dramática
organizado pela EAD com diretores recém-formados como Cacá Rosset, Cida Moreira, Sílvio Zilber e o admirável Luiz Roberto Galizzia, já falecido.
Montamos os espetáculos:
Em Nome do Pai do Espírito Santo, Roda Viva, Rasga Coração, Eles Não Usam Black Tie, A Semente.
Essa época foi muito importante. Nunca esqueci. Sempre que
encontro pessoas de Santos falamos nesse período em que o Carlos Pinto foi presidente da Federação, porque os grupos se conheciam, trocavam
experiências, discutiam os temas, participavam de seminários. Eram obrigados a estudar para fundamentar suas idéias de teatro, do ser político, de
artista. Tinha que ser muito claro no que você era.
Carmelinda: Essa clareza de idéias você adquiriu na escola ou na prática do teatro aqui na cidade?
Meu pai, embora
sendo militar, sempre participou de movimentos políticos à esquerda e dizia, a mim e à minha irmã, que estivéssemos atentos e não cegos, para que
não fôssemos usados. Mas a arte tem uma força libertadora porque nossas amarras começam a se abrir ao tomar contato com as obras de um Shakespeare,
de um Guarnieri. Nossa arte é transformadora por excelência. Não há como passar incólume pela montagem de uma peça teatral.
Antonio Dantas.
Pernilongos Insolentes Pintam de Humor e Tragédia
Completando 10 anos de atividade cultural na cidade, a
Cia. Pernilongos Insolentes Pintam de Humor a Tragédia vem se firmando como um grupo da região, acumulando no currículo premiações nacionais,
estaduais e regionais, deixando sua marca registrada em todos os lugares por onde passa, que é a qualidade e o profissionalismo com que trata seus
trabalhos.
Surgiu em 1986 formada pela união de atores oriundos de
grupos já existentes em Santos que se reuniram com o objetivo de criar um núcleo teatral que partisse de sua identidade cultural dentro do contexto
histórico e político da região. Formou-se a Cia. Pernilongos Insolentes Pintam de Humor a Tragédia, nome extraído dos versos de uma poesia da
escritora carioca Leduscha, acreditando que sua tarefa é inovar sem desprezar o velho, mas buscando novas formas com ousadia.
O primeiro texto utilizado pelo grupo foi
Leila Baby, do jovem escritor de Londrina/PR
Mário Bortolotto, até então inédito em São Paulo, que escreveu especialmente para os atores Cláudio Fernandes e Lucimara Martins estrelarem em 1987.
Autor e diretor de espetáculo, Mário Bortolotto foi premiado em vários festivais pelo país, o mesmo ocorrendo com os atores, recebendo prêmios em
São Matheus/ES, Campina Grande/PB, Ponta Grossa/PR e Franca/SP.
No I Festival Santista de Teatro, em setembro de 1987,
esse pessoal já mostrava a que veio, sendo Leila Baby considerado Melhor Espetáculo, ainda com
premiações para diretor, ator e atriz.
Ainda em 1987, com texto de Tônio Carvalho, a Cia. estreou
o infanto-juvenil A Idade do Sonho,
com direção de Cláudio Fernandes e Mirian Vieira, que ousaram em sua primeira experiência como diretores, alternando no palco atores e bonecos,
contando a história mágica de uma menina que sonhava com a liberdade fugindo com uma troupe de ciganos.
A Idade dos Sonhos
esteve em Campina Grande/PB, Resende/RJ e interior de São Paulo, participando de diversos festivais e dando à Naira Alonso e Mirian Vieira os
prêmios da Melhor Atriz e Atriz Coadjuvante, respectivamente. O ator Márcio de Souza, que veio do grupo Uma Mão Com Mel para encabeçar o elenco,
recebeu várias premiações como Melhor Ator. Como ponto alto do espetáculo estava a sonoplastia, com músicas compostas especialmente para a peça e
que se integravam eficientemente com o enredo.
Como características da Cia. temos a permanência de suas
montagens por longas temporadas e, somente em 1992, quando convidou o diretor Ricardo Membiella para um trabalho em conjunto, é que estreou
Viagem ao Coração da Cidade, texto de
Adhemar de Oliveira, que consagrou Ricardo como diretor recebendo prêmios de direção. O espetáculo teve uma vasta carreira viajando a Francisco
Beltrão/PR, São José do Rio Preto/SP, fazendo temporada no Teatro do Clube Atlético Santista, o que até então era inédito a um grupo manter-se em
cartaz na cidade por longo período e com sucesso de público.
Sem dormir sobre os louros conquistados, com fôlego para
muito mais, em agosto de 1993 estreou A Maldição do Vale Negro, provocando uma reação no mínimo
de espanto ao levar uma média de novecentas pessoas em um único final de semana ao Teatro Coliseu recém-tombado pelo Patrimônio Histórico e
desocupado das instalações de um cinema, ocupando o seu foyer para encenação de novo espetáculo.
A partir de março de 1994 A Maldição do Vale Negro
permaneceu em cartaz em São Vicente, no Instituto Histórico e Geográfico – Casa do Barão -, como parte dos eventos
que o Movimento SOS São José vinha realizando em apoio ao hospital, com parte da renda revertida para a entidade.
Para os próximos meses, a Cia. Pernilongos Insolentes
promete a estréia de um cabaré nos moldes dos berlinenses, famosos em uma época e que ainda existem em Berlim com
shows de variedades para receber turistas.
Single Singers Bar
é um musical que conta a história de tipos solitários que passeiam por todo o espetáculo alinhavando idéias e situações. A montagem é para pequenos
teatros e, principalmente, para locais alternativos como bares e casas noturnas onde haja condições físicas e acústicas para acomodar o espetáculo,
pois só serão utilizados, como apoio técnico, piano e voz.
A direção fica por conta do Dagoberto Feliz – Prêmio
APCA/92 de melhor direção musical pelo espetáculo Venha Buscar-me Que Ainda Sou Teu/direção Gabriel Vilela e
ex-integrante do grupo vocal Garganta Profunda.
É com essa caminhada de sucessos que a Cia. se firma na
História do Teatro em nossa região, preocupada em garantir, desde a formação, o conhecimento de seus integrantes, até a geração de recursos próprios
para custear suas montagens.
Segundo os integrantes do grupo, cabe ao poder público
facilitar o fortalecimento dos segmentos culturais sem adotá-los particularmente, objetivando uma política cultural contínua e não de picos que
caminham para deslizes por faltar estrutura sólida.
Minha
carreira de ator, iniciei com trabalhos de encenação no Projeto Teatro Aplicado à Educação, 1982, sob o comando da professora Iracema Paula Ribeiro,
com escolas da rede de ensino estadual e particular. Devido a uma interessante platéia formada nos locais que circundavam as escolas, o projeto foi
amadurecendo e adquirindo qualidade, ocorrendo uma seleção natural entre os integrantes, o que só veio a fortalecer as equipes.
No período de 1982 a 1985 realizamos espetáculos como
Sonhos de Uma Noite de Verão,
O Baile do Judeu,
Jesus Cristo Superstar,
entre outros, todos com adaptação livre das obras sob a coordenação da professora Iracema.
A partir desses trabalhos, pessoas oriundas desse movimento
que optaram em ampliar sua participação no movimento do teatro da cidade fundaram em 1986 o Grupo de Teatro Amador Uma Mão Com Mel. Eu fui um dos
incentivadores e apoiei de pronto a formação, tendo como diretora a Iracema, que deixava de ser nossa professora para ser colega de grupo.
Nosso primeiro espetáculo foi
Arlequim Servidor de Dois Amos, onde fiz o personagem Arlequim. No mesmo ano montamos o infantil
Os Três Peregrinos, onde fui o peregrino Sonhador. Nesse espetáculo fui premiado como melhor ator – categoria infantil – no I Festa – Festival Santista de
Teatro Amador.
Em 1988, em busca de aprimoramento e experimentar novos
diretores, atuei no infanto-juvenil A Idade dos Sonhos,
de Tônio Carvalho, direção de Cláudio Fernandes e Mirian Vieira, na Cia. Pernilongos Insolentes. Recebi o prêmio de melhor ator – categoria infantil
– no V Festival Estadual de Teatro de Campinas/SP. Esse espetáculo teve carreira de dois anos viajando pelo país, chegando a Campina Grande/PB.
Em 1991/1992 com a Cia Pernilongos, meu atual grupo onde
hoje faço parte da equipe de produção dos espetáculos, participei de
Viagem ao Coração da Cidade, de Adhemar de Oliveira, direção de Ricardo Mambiella, pelo qual recebi o prêmio de melhor ator coadjuvante nos festivais VI Festa e XII
Festival Cultural de Teatro de Pindamonhangaba/SP.
Em 1995, em substituição a um ator em
A Maldição do Vale Negro, espetáculo de maior público nos últimos anos em Santos da Cia. Pernilongos Insolentes, em uma de minhas primeiras apresentações recebi o
prêmio de melhor ator do Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa/PR, categoria espetáculo adulto.
Sem dúvida o personagem de
A Maldição do..., o velho Conde Maurício, é o momento de minha carreira de ator mais importante e mais agradável de fazer.
Não posso deixar de lembrar de algumas pessoas que
participaram dessa minha jornada teatral que já ocupa mais da metade da minha vida, que me fizeram ou fazem realmente me sentir um ator de verdade:
minha mãe e meu pai, claro, minha irmã com suas críticas severas; Iracema Paula Ribeiro e Ricardo Mambiella (in
memoriam), meus diretores Inês Guimarães, Naira Alonso, Mirian Vieira,
Carmelinda Guimarães (crítica e incentivadora preferida), Clóvis Garcia, Wilson Geraldo, Walter Rodrigues e o amigo Cláudio Fernandes.
Não esquecendo da participação como ator do elenco de
Absurda Noite dos Absurdos, direção e adaptação do Walter Rodrigues, de textos de teatro-de-absurdo, entre eles
O Grão-Vizir
de Renné Obaldiá.
Ter participado do
movimento teatral de Santos, do estado e do país até hoje, é algo sempre muito imprevisível, gostoso, porém difícil. A minha formação pessoal e de
uma platéia são características minha e de meu grupo, de cada núcleo teatral em que participei. O enriquecimento cultural e o lado humano com o
trabalho de grupo e a espontaneidade são coisas que a cada montagem ficam para mim.
Márcio de Souza.
Não dá para iniciar sem lembrar da professora Iracema Paula
Ribeiro convocando alunos da escola para a montagem de uma peça de teatro. Sem dar importância, lá fui eu. Era 1974, éramos todos apenas crianças.
Daquele grupo que atuou por algum tempo na escola só sobrou eu. Os outros deixaram o palco e hoje formam a platéia dos teatros da cidade.
Somente em 1983 procurei me integrar a um núcleo e foi
através do jornal que soube que o Teatro do Clube Atlético Santista (Tecas) estava precisando de atores. Na época era coordenado por Nelson Mash e
dirigido por Edivaldo Francisco Pereira. Também compareceram para ingressar naquele grupo duas adolescentes: Lucimara Martins e Naira Alonso.
Começamos todos juntos.
O Tecas tinha a característica de teatro-escola preocupado
com a formação de seus atores e foi lá que tive contato com algumas técnicas teatrais.
Naquele período o teatro santista vinha de um
enfraquecimento de movimento e, conseqüentemente, o esvaziamento das platéias. Eu ouvia falar de grandes nomes como Wilson Geraldo, Nélio Mendes,
Walter Rodrigues e a mais jovem, Yara Nascimento, que já haviam deixado as suas marcas no movimento de teatro da cidade, mas eu não entendia qual.
Fui entender tudo mais tarde.
A primeira apresentação em público se deu em um ensaio
aberto na Cadeia Velha de Santos, em setembro/83, quando Tanah Correa abriu aquele espaço para as oficinas culturais coordenadas por ele e
oferecidas pela Delegacia Regional de Cultura. Naquela tentativa de reavivar o teatro amador santista é que fuui oficialmente apresentado ao
movimento.
Os três anos de permanência no Clube Atlético resultaram em
três espetáculos: No Reino do Rei Malvadum,
Vapt-Vupt no Vai Quem Quer,
O Planeta dos Palhaços.
Renderam dois prêmios: melhor ator – categoria teatro infantil – por
O Planeta dos Palhaços
e o melhor ator coadjuvante – categoria teatro adulto – por Vapt-Vup
no Vai Quem Quer, no II Festival Estadual de Teatro de Piracicaba/SP/1984.
Em 1986 nos juntamos eu, Lucimara Martins, Mirian Vieira,
Naira Alonso e Sérgio Guerreiro para formar um novo núcleo. Foi quando fundamos a Cia. Pernilongos Insolentes Pintam de Humor a Tragédia,
"declaradamente hoje o meu orgulho".
A partir daí, minha história no teatro se confunde com a
trajetória da Cia. Pernilongos Insolentes. Foi através do primeiro espetáculo
Leila Baby, de Mário Bortolotto, que recebi prêmios de melhor ator no III Festival Nacional de Teatro de Porto São Matheus/ES/1997, no I Festa –
Festival Santista de Teatro Amador no mesmo ano. Com Leila Baby
corri o país, montamos o espetáculo em cartaz por dois anos, chegando a Campina Grande/PB.
Na Cia., dirigi meu primeiro espetáculo
A Idade dos Sonhos, de Tônio Carvalho, diversas vezes premiado em festivais. Foi onde tive contato com outros diretores como Ricardo Mambiella em
Viagem ao Coração da Cidade, de Adhemar de Oliveira e Dagoberto Feliz em A Maldição
do Vale Negro, de Caio Fernando Abreu e Luiz Arthur Nunes.
Foi com o
trabalho com Miriam Vieira e Márcio de Souza que firmamos o grupo reconhecido nacionalmente e com características próprias: criamos produtos de
qualidade e buscamos o aprimoramento a cada novo espetáculo. Como alguns dizem aí, até com certa ironia, "são os amadores mais profissionais da
cidade". Não é à toa que estamos comemorando 10 anos de atividade dos Pernilongos.
O teatro para mim funciona como alavanca para o meu
desenvolvimento pessoal: reflexão, experimentação, sentir, amadurecer sentimentos. Esse é um lado. O outro lado, que acredito seja o mais amplo, é
permitir mostrar a um público que se dispõe a ouvir, a comungar um momento de exposição de idéias – concordando ou não, aceitando ou não – mas,
despertando para reflexão de assuntos que ele, o público, tem a opção de escolher.
Se o teatro chega a
alterar comportamento, hábitos e costumes de uma sociedade, objetivando por um caráter político e cultural de atuação, não sei. Acredito sim que
pode despertar pequenos núcleos dela para reflexão e, a partir da própria sociedade, surgirem os movimentos de mudanças.
Cláudio Fernandes. |