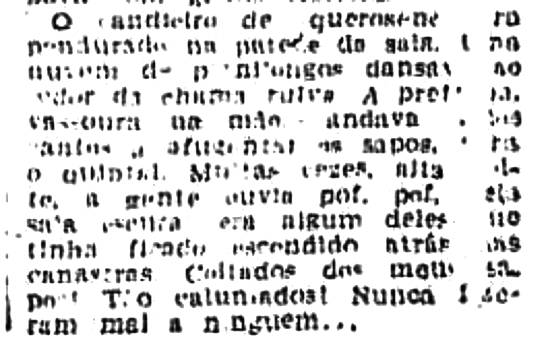A princípio era um rancho de pau-a-pique. Com o decorrer do tempo, barrearam-no, cobriram-no de telhas, enquadraram as janelas,
assoalharam a sala e a alcova. Quando começam estas lembranças era uma casa caiada, mas de paredes sujas, com as portadas azuis. A porta e as duas
janelas eram de uma só folha, fechadas com grossas trancas. Nunca passou de casa velha. Já tinha nascia do velha. Dava a impressão de que, com um pé
de vento, iria abaixo.
Era o sítio do Salvador. Ficava entre a serra e o rio, mesmo diante de uma tupava que, para os olhos, era um tear de águas
fiando por entre pedras, tecendo guirlandas de espumas. De noite, quando o vento dormia, quando nem sequer se escutava o palpitar da vegetação, a
corredeira cantava. Cantava o quê? Cantava o que a gente quisesse. Era só atentar o ouvido e, do queixume das águas, surgiam, desdobravam-se na
noite quente, harmonias de órgão.
Os contrafortes da serra começavam no quintal. De certos pontos se via, ali mesmo, como a silhueta branca de uma noiva, o
salto. O sítio chamava-se do Salvador porque foi Pai Salvador o seu último caseiro. Havia também o de Pai Benedito, pelo mesmo motivo. Para o lado
de cima da Água Fria e dos Pilões, os morros tinham nomes sugestivos:
Mazagão, Pai Cará, Mãe Maria, Tomé de Pina. Eram nomes que cheiravam a África, a Portugal do Descobrimento.
Para lá dos picos da serra, ficavam as terras do Zanzalá, nome que lembra zahar Allah, flor de Deus, ou azherelali, flor da altura.
Francisco Martins dos Santos, historiador da minha terra, diz que esse nome é do primeiro morador daquela região, mas eu acho a
sua explicação terrivelmente certa. Prefiro a outra. Zanzalá deve ser a expressão com que o preto muçulmano designava a aleluia, árvore que viceja
nos pontos altos da serra e que, no mês de março, floresce, como pinceladas de ouro.
Do lado de baixo do sítio ficava, para os que iam a pé, o Morro do Poço, para os que iam de canoa, o Poço do Morro. Era um
cotovelo de rio onde as águas remoinhavam, cavando profundamente o leito. Passava-se por cima dele num caminho de cabras, entre o barranco a pique e
o mistério das águas negras, em que se espelhavam os ingazeiros.
Quando o rio enchia, isto é, quando estava de "água do monte", como se dizia, o caminho ficava encoberto. E a gente do Salvador
via-se ilhada. Durante uma semana ou mais, comia-se o que Deus dava. Moía-se cana na engenhoca e com a garapa coava-se café. Preto velho pitava
folha de cambuci. As refeições eram constituídas de palmito, inhame, taioba, mangarito, ou alguma caça que os camaradas traziam dos mundéus,
perdidos na mata encharcada.
O rio subia aos saltos, como se lá pelas cabeceiras desmoronassem açudes; galgava os barrancos, espraiava-se pelo terreiro,
ameaçando a casa. E os moradores dormiam com a porta do quintal sem tramelas, apenas encostada, esperando a hora, que felizmente não chegou, de
correrem trouxa na cabeça, para o morro mais próximo.
Quando a cheia era bravia, grandes árvores arrancadas dos barrancos rolavam pelo rio, virando de ponta-cabeça, mostrando ora a
copa escorrida, ora as raízes esbranquiçadas, em cambalhotas, com vergastadas e estrondos que punham pequenino o coração da gente. Naquelas noites,
a topava não tinha harmonias de órgão, mas os sapos dialogavam no quintal e as untanhas, "que tinham chifres", berravam lugubremente pelas várzeas
alagadas.
Nos bananais do litoral, como em muitas propriedades agrícolas do interior, os trabalhadores são chamados de camaradas, como
nos núcleos socialistas, ou nos quartéis. De onde virá esse costume? O camarada era, naquele tempo, um caiçara que deixava a roça de mandioca, à
beira-mar, para melhorar de sorte nos bananais de Cubatão, ou do Jurubatuba.
Entre eles, contavam-se também trabalhadores vindos de outros estados. A procedência se lhes apegava ao nome. Benedito Bahia,
Pedro Guasca, Mané Ubatubano, Chico Cananéia, que sei eu! Muitos eram andantes. Nunca mais ouvi essa palavra... Andante era o marinheiro fugido de
bordo, o desertor, o evadido, que dava um nome qualquer e esquecia o passado. Ninguém lhe fazia perguntas.
No sítio do Salvador trabalhou um austríaco que falava diversas línguas, deleitava-se com os gregos e lombava cachos de bananas
do carreador para a picada. Um dia foi ao povoado comprar tabaco e nunca mais voltou. Fez a viagem do corvo. Outro estrangeiro interessante... Mas,
para que contar essas coisas?
Não creio que o bananal melhorasse a sorte de ninguém, pelo menos naqueles dias. Os camaradas moravam em ranchos de palha,
dormiam em tarimbas de varas, com esteira por cima, construídas ao longo das paredes esburacadas. No centro do rancho ardia, a noite inteira, um
fogo de lenha verde, verdadeira fábrica de fumaça, para afugentar os pernilongos.
Guardavam a roupa - os que tinham roupa - em baús de folha feitos na Cadeia. Esses baús eram vistosos e ostentavam na tampa uma
grande rosa pintada, certamente, com a ponta do dedo, pelo recluso artífice. A alimentação era exclusivamente de feijão, nacos de carne seca e uma
conchada de arroz.
Certa vez houve no sítio um corre-corre porque, como abundasse a criação, os donos se lembraram de substituir a carne seca por
galinhas e ovos. A comissão que foi parlamentar com o patrão alegou "que galinha era imundície, deixava tísico". Ganhavam dois mil réis por dia de
trabalho. E o dia de trabalho nos bananais, há quarenta anos, era uma coisa espantosa.
Na infância, sofri muito com o vento. Quando o céu se cobria de pequenos flocos de nuvens, os camaradas olhavam para cima e
sentenciavam: "Ceu pedrento, chuva ou vento"... Ao entardecer, imensos rabos-de-galo, escarlates, se estendiam sobre o rio, as matas, os bananais.
As mesmas pessoas consideravam: "ruivores no céu, calores na terra". E acertavam. O dia seguinte amanhecia de Noroeste. A serra se tornava muito
nítida. Era como um monstro diluviano adormecido entre a planície e o mar. Mãos invisíveis, de quando em quando, pareciam acariciar-lhe o pelo azul,
mostrando o reverso esbranquiçado das folhas. Passavam pelos contrafortes, mergulhavam nos grotões, subiam pelas encostas e alisavam os remotos
picos.
Dali a pouco, a gente sentia no rosto um hálito quente, saído de um incêndio. As traves estalavam, as gravuras de santos
desgrudavam da parede, as cigarras ziniam como loucas. O rio que, antes da tupava, era um espelho, enrugava-se todo. Sobre a corredeira, as árvores
pensas dos barrancos punham-se a beijar repetidamente a água, numas ventas muito compridas. As laranjeiras amargas deixavam cair as folhas murchas.
Quando estavam carregadas, os frutos podres tombavam, esborrachando-se. Mas se a estação era de flores, o chão ficava branco e o sítio cheirava a
oratório.
E o vento vinha vindo. O sol caía impiedosamente. Os alvos lírios do brejo, que espiavam de todos os barrancos, amareleciam. A
umidade que subia do chão tinha cheiro de cozimento de ervas. A luminosidade dava vertigens, para se olhar à distância, tinha-se de botar a mão em
pala. Ao cair da tarde, desencadeava-se, à rédea solta, o Noroeste. Sua voz causava arrepios. As lufadas uivavam, lamentavam-se como carpideiras,
ciciavam coisas misteriosas pelas frinchas.
Em certas horas, parecia que o sítio tinha sido assaltado por legiões de moleques que punham o dedo na boca e desandavam numa
vaia contra o céu. As aves nem sempre podiam voar e eram atiradas contra as árvores retorcidas. Muito sabiá atirou-se de peito contra a parede
caiada e caiu, morto, sobre as pedrinhas brancas da soleira. Os filhotes eram arrojados para fora dos ninhos e ficavam a gritar aflitamente entre as
ervas torcidas.
Não se podia cozinhar porque o vento entrava pelo fogão e enchia a casa de fumaça, uma fumaça ardida que deixava os olhos
vermelhos e lacrimejantes. A cada passo, a gente passava a mão pelas pernas e, sob os dedos, ficava um tijuco sanguinolento: eram os borrachudos. O
Benedito Bahia tinha um frango muito manso, que ficava com ele à porta do rancho, para bicar os borrachudos que lhe grudavam nas canelas escuras.
Esse caboclo - dizia ele - tinha uma história. No entanto, alta noite, ele nos abria bondosamente a porta do seu rancho.
Ainda me lembro como se fosse ontem. Com a noite, o vento redobrava de fúria. Destelhava casas de zinco, arrancava
bananeiras, lascava galhos de árvores centenárias. Quando nos pilhava no terreiro, nos arrastava pela fralda da lebita. E miava como as onças. Em
certos momentos, bufando de cólera, metia os ombros na casa e a gente como que via as paredes deitarem barriga, o telhado levantar-se para cair,
para esmagar os que estavam dentro. Então, assustados, tomávamos das cobertas e, esperando uma estiada, íamos bater à porta do rancho do Bahia.
O caboclo estava de cócoras no meio do único compartimento, diante do fogo, com as mãos metidas na barba, a coçar eternamente o
queixo. Contava-se que ele não dormia, passava a noite assim, diante das brasas, a discutir com o remorso. Mas era calúnia. Quando chegávamos,
ia logo fazer café. Tomava da chaleira e do coador e, com a noite e com o vento, ia à cachoeirinha buscar água para ferver. Quando a porta se abria,
com todo cuidado, o vento entrava e fazia aleluia das brasas.
Ao amanhecer, voltávamos para casa. Não tínhamos certeza de encontrá-la em pé. Mas a verdade é que ela lá estava. Ainda devia
resistir por muitos e muitos anos.
O Noroeste durava três dias; depois vinham três dias de chuva. D. Maria, a avó, de cabelo branco, lambido para atrás, amarrado
num birote, costurava junto à janela, aproveitando a claridade que vinha do terreiro encharcado Passava a vida a fuxicar roupa. Calças e
camisas manchadas de nódoas de bananeira, pareciam trapos sujos. Mas cheiravam a barrela. Quando ela não enxergava mais a costura, gritava para
pretinha:
- Florescena, feche a casa, acenda o candeeiro e enxote os sapos!
Escurecia cedo, dormia-se com as galinhas. As saracuras ainda gritavam no brejo, os passarinhos do [...] ainda se acomodavam
nas copas gotejantes. Os últimos camaradas passavam lombando cachos de bananas para o porto do rio. As últimas canoas vogavam totalmente carregadas
de bananas, com quatro dedos de costado para fora da água. Os canoeiros firmavam os varejões ferrados nas primeiras pedras do baixio e saudavam a
tupava com gritos festivos.
O candeeiro de querosene era pendurado na parede da sala. Uma nuvem de pernilongos dançava ao redor da chama ruiva. A pretinha,
vassoura na mão, andava pelos cantos a afugentar os sapos, para o quintal. Muitas vezes, alta noite, a gente ouvia pof, pof, pela sala
escura: era algum deles que tinha ficado escondido atrás das canastras. Coitados dos meus sapos! Tão caluniados. Nunca fizeram mal a ninguém...