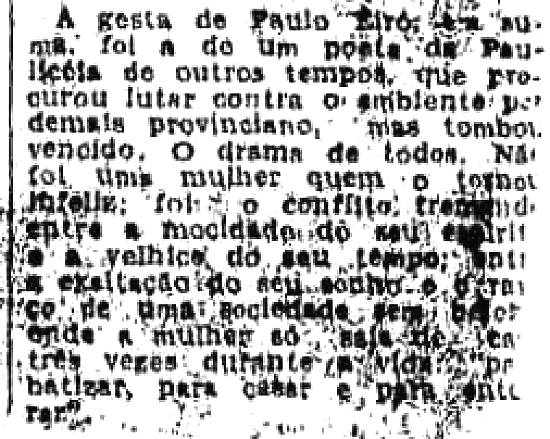|

Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria
Poetas de ontem
A 15 de abril de 1836, em Santo Amaro, no seio
de uma família a que se ligam diversos nomes da aristocracia paulista, nasceu um homem de letras. A mesma árvore genealógica abriu-se em três
flores: o bandeirante Borba Gato, o santo Belchior de Pontes e o poeta Paulo Eiró.
Deu-se com Paulo Eiró o mesmo que se havia dado com Alvares de Azevedo. Contemporâneos, cortejados durante a vida pelas
fulgurações da inteligência, deveriam ser esquecidos logo depois da morte, para voltarem a ser admirados em dias do futuro. O poeta de Santo Amaro,
em crônica publicada no Rio de Janeiro, no jornal de Francisco Otaviano, conta como conheceu o poeta de Noite na Taverna. Foi um dia
memorável:
"Eu vi-o uma só vez em minha vida, mas nunca poderei esquecer esse instante. Era na velha Igreja de S. Francisco, em S. Paulo.
Armavam o templo para celebrar as exéquias do estudante João Batista Pereira. Um soberbo catafalco erguia-se até o mais alto da nave, tendo escritos
nas suas quatro faces versos sentidos e lúgubres. Li-os e confesso que me pareceram detestáveis. 'Quem é o autor?' - perguntei a um primo que me
acompanhara até a igreja e que já gozava das honras de calouro. 'Aquele moço que está ali, sentado em um banco'. Era ele, Azevedo, o pálido
sonhador. Seu olhar distraído e melancólico estava fito no monumento fúnebre, como se contemplasse alguma visão que lhe aparecera bem vezes na bruma
tristonha da noite. Parecia Hamlet considerando o espectro de seu pai. Passaram-se meses e soube pelo Jornal do Comercio que finara o pobre
cantor. Depois... silêncio. Saíram finalmente a lume as poesias daquele cisne que morrera tão cedo, afogado na água estagnada dos paúes da terra. Um
escritor português, Lopes de Mendonça, que tinha na alma a têmpera de Azevedo, e que, como ele, acabou por enlouquecer, revelou ao Brasil que
perdera um grande poeta".
Alvares de Azevedo, como se vê pelo escrito de Paulo Eiró, teve a felicidade de encontrar um escritor que o revelou às letras
párias. Foi apresentado num período em que o mundo pouco havia mudado e ainda estava apto a compreendê-lo. Infelizmente, porém, com Paulo Eiró não
se deu a mesma coisa. Sobre seu nome e sua obra acumulou-se, como escura mortalha, a poeira de um século. Quando essa mortalha foi retirada, pouco a
pouco, o mundo já havia mudado completamente. Para entender-lhe os versos e sentir-lhe as emoções, tornou-se preciso que o leitor fosse poeta, tão
poeta como ele.
Graças a pesquisas feitas por estudiosos do nosso passado, a inquieta personalidade de Paulo Eiró foi restituída à literatura.
Cresce a bibliografia a seu respeito. Sua biografia, ou melhor, seu drama, tem sido contado por diversos autores, entre os quais ouso inscrever o
nome do rabiscador destas linhas. Nesse drama há uma figura deliciosamente feminina que foi a Musa, a inspiradora do poeta de Santo Amaro. Todos os
que estudaram a vida do poeta prestam-lhe culto. Mas não lhe citam o nome. É que essa senhora viveu quase um século, vindo a falecer no dia de Ano
Bom de 1932.
Qual teria sido o drama dessa desconhecida? Era preciso contá-lo, para benefício da história de nossas letras. O sr. Luis
Ferreira Pires, ligado à sua distinta família, acaba de fazê-lo num trabalho a que deu o nome de A Musa de um Poeta. Fê-lo com tato, com
delicadeza. Deu ao livro a forma de romance e, na fabulação, o leitor vai encontrando nomes fictícios sob os quais, aqui e ali, descobre as
personagens históricas. Seja com for, o drama da Musa de Paulo Eiró acaba de ser contado por pessoa de sua intimidade, que deve ter colhido os dados
na tradição familiar. É, portanto, um serviço prestado às nossas letras.
Não me parece, no entanto, que a inquietação de Paulo Eiró tivesse sido motivada apenas por esse amor infeliz. Depois de haver
escrito a sua biografia, de haver meditado, sobre os lances mais dolorosos de sua vida, fui levado a acreditar que o seu sofrimento foi o mesmo de
Alvares de Azevedo, de Varela, de Bernardo Guimarães, daquele português Lopes de Mendonça que por aqui andou, entre estudantes e poetas, de tantos e
tantos rapazes que acabaram enlouquecendo ou morrendo, cada um deles por determinado motivo aparente, mas todos realmente por um motivo: o conflito
entre a mentalidade romântica de 1850 e a vida rançosa, tacanha, sem céu nem horizonte daquela Paulicéia provinciana e beata em que viveram.
Nas próprias palavras de Paulo Eiró sobre Alvares de Azevedo foi apalpado, na linguagem do tempo, o esqueleto desse drama. Quem
lhe lê a biografia, seja em Amadeu Amaral, seja no seu descendente José Gonsalves (ele escreve Gonsalves com "s" e apresenta a quem pergunta a razão
por que o faz), pode desde logo imaginar o antagonismo entre o homem e o meio que o cercava. Paulo Eiró e seus companheiros que floriram no meio do
século XIX foram sacrificados pela época. Seu caso é o mesmo daqueles poetas barbudos, cabeludos e de nomes impressionantes que se diziam "la
jéune France au coeur de salpêtre". Mas a sua doença ainda foi mais aguda.
Na França, a crise psíquica deu-se depois daquilo a que muitos chamaram de epopeia napoleônica, quando a mocidade nascida e
criada num ambiente de fanfarras e de louros se viu de braços irremediavelmente cruzados.
Alfredo de Musset, nas Confissões de um filho do século, conta os seus desatinos. São rapazes alucinados, à procura de
qualquer coisa que não conseguiam encontrar. Uns bebiam, morriam de tanto beber. Outros amanheciam enforcados no lampião de um beco. Exagero seria
atribuir o fim de Alfredo de Musset à inconstância de George Sand, ou a morte de Gerard de Nerval à pobre Geny Colon, que mal soube da sua
existência... O mesmo com os demais.
No Brasil, o fenômeno repetiu-se ainda mais profundo. A mocidade dos meados do século já estava longe das bandeiras. A
mineração não passava de um eco perdidona distância. A luta pela Independência ficara na última geração. A guerra que se desencadeou no Sul não era
de molde a satisfazer tamanha sede de aventura. Não se ouvia o estrépito das batalhas. As notícias chegavam esbatidas. E eles aqui, chumbados a uma
cidade provinciana morta, cheirando a bolor, onde só havia uma possibilidade de fuga: a leitura. Mas que leitura!
Byron, Goethe, Musset, Victor Hugo, Henri Murger. Aquelas bebedeiras de emoção que arrebatavam os nossos poetas se desenvolviam
nas ruas humildes de uma cidadezinha beata, onde se levava vida bem chã, quase miserável. Entre esses moços, Alvares de Azevedo e Paulo Eiró. O
primeiro, mais velho alguns anos, mergulhou nas sociedades secretas onde os chamados epicuristas de vinte anos se entregavam a um suicídio lento em
festas que não eram ais do que sabbats. Isso se passava num velho casarão abandonado, lá para as bandas da Glória. No auge da febre, quando o
decantado rum da Jamaica incendiava o cérebro, ele e seu grupo, de que fazia parte o futuro padre Bacalhau, partiam pelas noites silenciosas da
cidadezinha adormecida, a perturbar o sono dos mortos, nas suas covas.
São Paulo de 1845 a 1850 assistiu a cenas que as velhas cidades europeias da Idade Média desconheceram. Já têm sido contadas.
Não as repetiremos.
Das cartas de Alvares de Azevedo, Varela, até Castro Alves, o que mais choca o estudioso é o contraste entre a superexcitação
desses jovens abeberados da literatura romântica, onde resplandeciam legiões de formosas criaturas, das marquises empoadas às boemias do Bairro
Latino (N.E.: Quartier Latan, bairro de Paris, na França),
e a pobreza de mulheres no S. Paulo daqueles dias.
A cada passo encontramos esta queixa: em S. Paulo não há mulheres. Há
taverna, há vinho, há serenata, há poesia, há canção, há longos passeios noturnos pelos bairros encharcados de garoa, mas não há o motivo principal,
único, de tudo isso. S. Paulo dos estudantes era uma cidade sem tricanas, sem grisettes, sem costureirinhas, sem nada. As grandes damas,
segundo a moral da época, só saíam de casa três vezes durante a vida. As criaturas acessíveis, conhecidas de toda gente, com rebarbativas alcunhas,
como ainda hoje nos afastados recantos do interior, eram umas pobres infelizes, perdidas na ignorância e na abjeção, a mil léguas de distância da
ansiedade sentimental dos que as procuravam.
Paulo Eiró fez-se nesse meio. Felizmente para ele, teve desde os
primeiros dias da juventude um grande amor a iluminar-lhe a existência. Mas um amor doloroso, por motivos que agora encontramos no livro do sr. Luiz
Ferreira Pires. Fácil será imaginar a desolação desse éfebo lindo, elegante, de mentalidade clara, aberta aos ideais que começavam a alvorecer: a
Abolição e a República. Essa desolação durante os primeiros anos atirou-o para o estudo, a poesia e a meditação. Era filho de um professor primário
que conseguira entesourar primores de cultura. Lia a Bíblia em latim, escrevia livros de História. Mas escondia feridas na alma.
A infância de Paulo Eiró desenrolou-se no isolamento de uma chácara de
Santo Amaro. Rezava-se de manhã, no início e no fim das refeições e, também, à noite. Diante da casa havia um majestoso cruzeiro. O pai tinha crises
profundas de religiosidade, ciliciava-se. Um irmão do poeta ordenou-se padre. O rapazinho viveu num conflito entre esse meio e a literatura da
época, que ele devorava; entre o amor lirial e inatingido de sua Musa e os devaneios de uma inteligência por vezes citada como genial.
Voltou-se para o teatro. Escreveu peças. Entre elas, o drama Sangue
Limpo, um grito abolicionista, que representado deveria trazer-lhe agudos dissabores. Para representar as suas peças, fundou o seu teatro. A
história do teatro de Paulo Eiró tem um lugar na história do teatro brasileiro.
No seu exaltado sonho, transformou a escola pública da Rua Direita
numa casa de espetáculos. Construiu o palco, alinhou os bancos da plateia, escreveu peças adequadas, de fácil interpretação e, com alguns amigos,
levou-as à cena. Mas não havia moças que se dispusessem a pisar o tablado. Então, os papéis femininos foram representados por cavalheiros, vestidos
de saia, com grande alegria da assistência.
Depois abalançou-se a representar trabalhos de fôlego. Entre esses,
A Dama das Camélias. E ele, que era de invencível timidez, fez um esforço gigantesco: vestiu saia de balão, ajeitou uma cabeleira de cachos e
foi para a ribalta, a encarnar o papel de Margarida Gauthier.
Tudo isso em Santo Amaro, nos meados do século XIX!
Seu teatro não foi por diante. Matriculou-se na Academia. Desistiu. E
a tempestade sublimou-se num desejo de religião que o levou ao Seminário, onde pontificavam luminares do clero. Mas, por esse tempo, ao que parece,
o sonho já havia obnubilado a razão. Um dia, o pai foi chamado ao colégio e o diretor, procurando palavras, explicou-lhe que o rapaz não poderia
prosseguir no estudo. O diálogo deveria ter sido este:
- Chamamo-lo para aconselhá-lo a fazer seu filho desistir da carreira
religiosa.
- Ele, por acaso, não dá para esses estudos?
- Dá demais, por assim dizer. Tem curiosidades geniais. É um inquieto.
Quer saber tudo.
- Nesse caso...
- Nesse caso nós costumamos abrir mão de tais inteligências. O curso é
de estudo e não de investigações. Há coisas que não podemos ensinar ao primeiro que nos procura, mesmo que seja uma inteligência como a de seu
filho. Aconselhamo-lo a encaminhá-lo de novo para a Academia de Direito, onde todas as portas da filosofia profana lhe estão abertas. Ainda mais.
Pedimos-lhe que destrua alguns de seus versos, que pecam pela impiedade.
O pai obedeceu. Os versos filosóficos foram queimados, uma arde,
diante do cruzeiro da chácara.
Saindo do Seminário, a razão de Paulo Eiró entrou em rápido declínio.
Em viagens loucas que lembravam as de Nerval, visitou santuários em Minas, foi ao Rio de Janeiro, a diversas cidades do interior da Província.
Perdeu-se. Um dia voltou. Era um mendigo. Seguiram-se meses de silêncio, a passear pelas ruas de Santo Amaro, com as mãos atrás das costas, como
quem procura a verdade entre as pedras da rua. As imensas noites de vigília. Os versos amargos, escritos nos momentos de lucidez. Depois a cena
violenta na matriz de Santo Amaro. Os atos de desespero diante dos objetos de culto. Todo o drama da razão que se extingue entre labaredas de gênio.
Certo dia, despencou para Santos, tomou um navio com destino ao Rio de
Janeiro, mas tais tropelias praticou a bordo que o capitão desembarcou-o num dos portos intermediários, Caraguatatuba, Ubatuba, quem sabe lá... Pois
ele, sem quaisquer recursos, transpôs as florestas da Serra do Mar, caminhou pelos campos, pernoitou neste ou naquele vilarejo e, numa noite triste,
esfarrapado e desfigurado, chegou a São Paulo. Passando pelo Largo da Sé, viu o templo iluminado e festivo. Era um casamento. Naquele tempo, esses
atos realizavam-se à noite. Entrou. Era o casamento da sua Musa...
O resto ainda é mais triste. O último período passou-se na Casa dos
Loucos, na várzea, diante da Rua Tabatinguera. O prédio, primeiro residência do padre Monte Carmelo, ainda existe, embora muito modificado; já foi
hospício, já foi quartel, já foi almoxarifado da Força Policial. Há oitenta anos era um sobradão amarelo, situado fora da cidade, onde a polícia
atirava os dementes que vagavam pelas ruas ou que as respectivas famílias não podiam manter em casa. Não era ainda um hospital, onde os enfermos
recebessem tratamento e tivessem esperança de regressar ao mundo, em certo prazo, como agora é comum. Era, ao contrário, um verdadeiro depósito, com
espantosos quartos de portas gradeadas: os exilados da vida ficavam dias inteiros a olhar para os corredores, com olhos apagados, toldados pela
cinza do último sonho.
Os parentes, de quando em quando, faziam-lhe visitas. Uma escrava da
família, aquela que o criara, com o infinito devotamento que as velhas pretas tinham pelos seus sinhozinhos, procurava abrandar-lhe os horrores dos
últimos anos de existência. Vinha a pé de Santo Amaro, todas as semanas, para vê-lo. Cortava-lhe os cabelos, aparava-lhe a barba, lavava-lhe os pés
e, principalmente, falava-lhe a linguagem da amizade que todos entendem, também os loucos. Passando pelos corredores escuros, ela fechava os ouvidos
para não ouvir os gritos, os insultos, ou mesmo as gargalhadas daqueles pobres doentes que a espiavam, com olhos feios, pelos vãos das grades.
Um dia o poeta morreu: foi para o Cemitério Municipal.
A preta velha mudou de senhores.
Com o tempo, um a um, todos morreram.
De Paulo Eiró não ficou coisa alguma, nem a cruz com o nome. Esse
esquecimento durou mais, muito mais, que o de Alvares de Azevedo. Não fora José Gonsalves que andou catando os seus versos, os seus dramas, as suas
lembranças, não teríamos hoje um luminoso vestígio daquela inteligência. Amadeu Amaral revelou-o aos poetas da sua geração.
Valdomiro Silveira exaltou-lhe a glória e a infelicidade. Mario Vilalva, no Rio de Janeiro, fez uma conferência sobre O poeta desconhecido.
Em 1936, por ocasião do centenário, multiplicaram-se palestras e conferências sobre o poeta de Santo Amaro. O autor destas linhas escreveu-lhe a
biografia romanceada. E agora, com grande êxito, o sr. Luiz Ferreira Pires acaba de publicar A Musa de um Poeta, livro que, para os
conhecedores da angústia de Paulo Eiró, é a biografia de sua Musa.
A gesta de Paulo Eiró, em suma, foi a de um poeta da Paulicéia de
outros tempos,. que procurou lutar contra o ambiente por demais provinciano, mas tombou vencido. O drama de todos. Não foi uma mulher quem o tornou
infeliz; foi o conflito tremendo entre a mocidade do seu espírito e a velhice do seu tempo; entre a exaltação do seu sonho e o ranço de uma
sociedade sem [.. (N. E.: ilegível no original: beleza?)].
onde a mulher só saía de casa três vezes durante a vida:"para batizar, para casar e para enterrar".
Affonso Schmidt
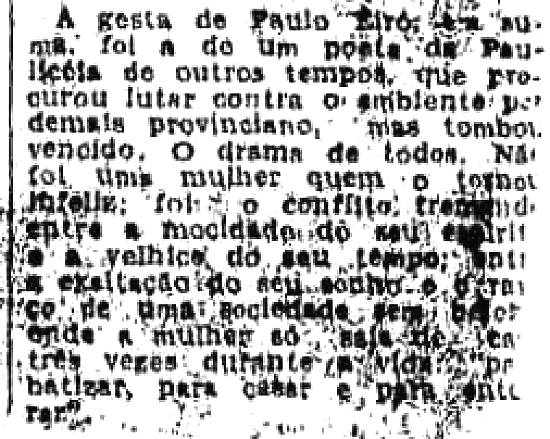
Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria |