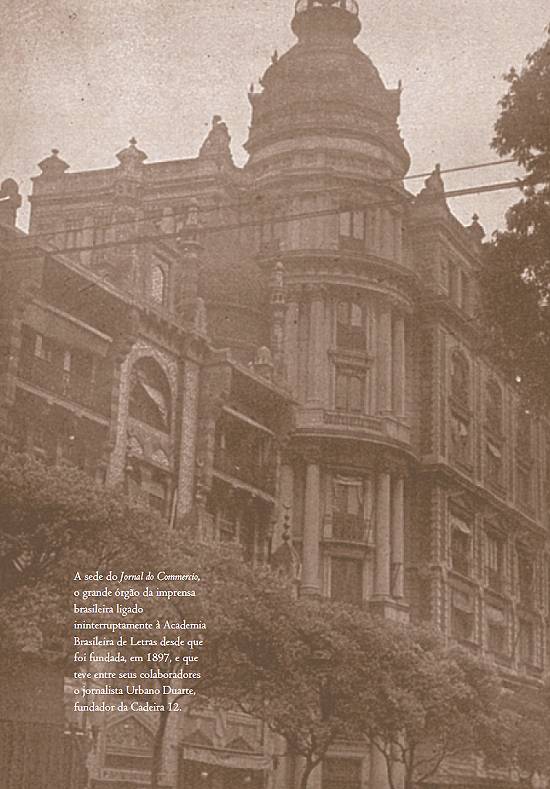|
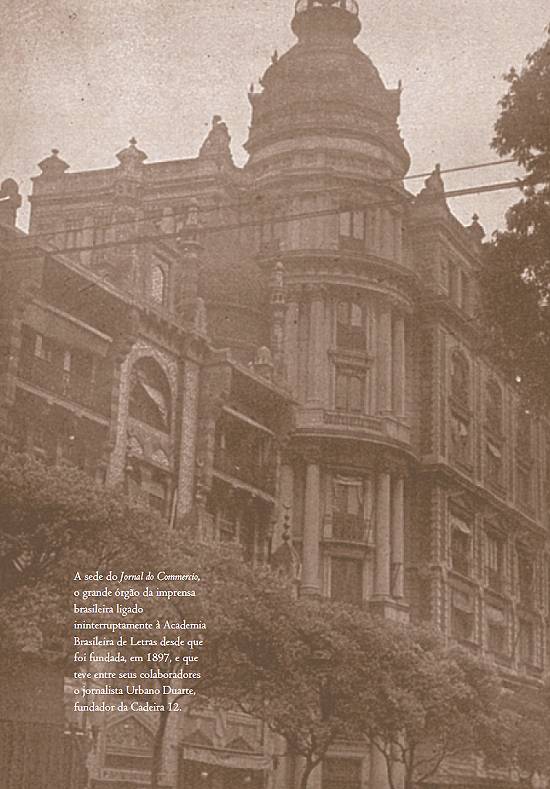
A sede do Jornal do Commercio, o grande órgão da imprensa brasileira ligado ininterruptamente à Academia Brasileira de Letras
desde que foi fundada, em 1897, e que teve entre seus colaboradores o jornalista Urbano Duarte, fundador da Cadeira 12
Imagem: capa da publicação
Guardados da Memória
A Academia Brasileira e o Jornal do Commercio
João Luso [*]
O Jornal do Commercio não tem apenas, como toda a imprensa, acompanhado a Academia Brasileira de Letras. A ela, e desde a sua
fundação, o já então chamado Velho Órgão se ligou por vínculos de inteligência e afeto que, nem por um só momento, haviam de se desprender. Por um esforço e um sentimento comum logo as duas Casas, a de Pierre Planchet e a de Machado de Assis,
confraternizavam.
Do Jornal do Commercio se dizia que era o Senado da Imprensa; a Academia vinha a ser o Senado das Letras. Se percorrermos as coleções da folha, em outros tempos tão avara do espaço para homenagens e encômios, veremos que, para a Ilustre
Companhia, sempre as suas colunas se dilataram generosa e prazenteiramente. Para ela se reservavam ali adjetivos de raro emprego e só para ocorrências ou personagens excepcionais; e, certamente, algumas fórmulas de louvor que nunca haviam
logrado acesso àquelas páginas severas, agora para lá subiam, por se tratar da Sociedade Insigne de que Medeiros e Albuquerque fora o primeiro inspirador e Lúcio de Mendonça, como tantas vezes se tem dito ou insinuado, o verdadeiro fundador.
Donde poderia vir, para as relações entre o jardim de Academos e o luminar da Imprensa, tal aproximação e conformidade? Se bem conseguimos informar-nos, não havia, nos primeiros tempos da Academia, redator efetivo do Jornal, eleito ou
candidato à imortalidade.
Só um colaborador, com seção e dias certos: Urbano Duarte, autor dos folhetins de domingo, Sem rumo, que, reunidos em volume, haviam de compor a única obra publicada e propriamente
literária do escritor: Humorismos. E Urbano nada influía na orientação ou nas simpatias da folha. Pouquíssimo por lá aparecia. Mandava as crônicas aos sábados; mandava cada mês receber os duzentos ou duzentos e cinquenta mil réis da colaboração
– e a isso se reduziam, pelos modos, as relações entre o homem de letras e a casa para a qual, um dia por semana, trabalhava.
Quanto ao diretor de então, José Carlos Rodrigues, parece que uma só vez Urbano teve com ele aproximação deveras significativa. Por sinal que sendo história pouco divulgada, valerá talvez a pena
recordá-la.
A propósito de qualquer coisa ocorrida em Mato Grosso, surgiu no rodapé dominical a pilhéria que negava, com argumentos do gênero, a existência daquele Estado brasileiro. – Não, não havia Mato Grosso! Quem, algum dia, lá fora? Quem, realmente,
de lá viera? Era um mito como a Fênix e que algumas pessoas tomavam ou fingiam tomar a sério. Ou então, uma espécie de convenção para fins políticos, mandatos, comissões, empregos... – E por aí fora.
Mas Urbano, embora ninguém o soubesse e talvez ele próprio, por vezes, o esquecesse, era major de artilharia; o ministro da Guerra, o severíssimo general Cantuária, detestava facécias em questões
de brasilidade; e, na segunda-feira, baixava-se de uma ordem do dia que mandava o major Urbano Duarte recolher-se dentro do menor prazo possível, ao regimento aquartelado em Corumbá.
Para o folhetinista não poderia haver maior surpresa nem desastre maior. Valeu-lhe José Carlos Rodrigues, o qual, logo informado do que se passava, mandou chamar o seu colaborador e, depois de breve conversa, partiu a toda a pressa para o
Ministério da Guerra.
Cantuária mostrou-se a princípio irredutível e quis, por sua vez, deitar ironia: que não o movera a intenção de punir um oficial e ao mesmo tempo homem de letras tão distinto; desejara apenas
revelar-lhe alguma coisa por ele estranhamente ignorada: que Mato Grosso existia, de fato. Mas Rodrigues insistiu e tudo por fim se arranjou, sem outro revés para o cronista de Sem rumo, se não o impedimento de gracejar – pelo menos
dentro daquele Governo – com o mapa da República.
Ora, dado o caráter do seu trabalho e com a sua falta de assiduidade na redação, bem pouco o acadêmico nº 1 do Jornal do Commercio influiria, mesmo que em tal pensasse, para a espécie de afinidade, parentesco intelectual e cordial,
formado entre as duas instituições. A verdade é que as duas se pareciam a ponto de se irmanarem.
Assim o Jornal ia seguindo, uma a uma, as sessões acadêmicas de certa solenidade ou relevo no Pedagogium, na Revista Brasileira, no Ginásio Nacional, na Biblioteca Fluminense, no Gabinete Português de Leitura, finalmente no
Petit Trianon. Até hoje, só o Jornal do Commercio tem dado sistematicamente e na íntegra a resenha que recebe das reuniões de quinta-feira. Só ele publica, textualmente também e no dia imediato, os discursos das recepções acadêmicas. Não
se trata, certamente, de um privilégio explícito, só a ele concedido. Outras folhas que o solicitassem, sem dúvida, o obteriam.
Apenas o velho órgão não precisa de o reclamar; ele lhe vem, como veio sempre, pela lei das solidariedades espontâneas e pela ordem natural das coisas. Do Jornal do Commercio partiu um dos maiores e mais rápidos triunfos que algum
acadêmico já obteve no campo da livraria.
Foi o caso do Canaã. Graça Aranha, escritor ainda bem pouco conhecido, voltou, dessa vez da Europa, tendo por companheiro de viagem José Carlos Rodrigues. De simples conhecimento, passaram
as suas relações, durante a travessia, a certa intimidade, um princípio de amizade. Aparecia então o romance. Rodrigues recomendou-o, com particular interesse, a Félix Pacheco. Félix, num daqueles arrebatamentos magnânimos que até o fim lhe
traduziram o temperamento de poeta, elevou Canaã aos, por eufemismo, chamados carrapitos da lua.
O artigo apareceu, pela mais honrosa e sensacional das exceções, na primeira página do jornal. Houve uma verdadeira corrida às livrarias; e, em três ou quatro dias, a edição se esgotava. Não se
discute aqui o valor da obra. Assinala-se um fato eloquente, mais nada.
Medeiros e Albuquerque, só por ocasião do seu exílio voluntário, após o malogro da campanha presidencial pró-Rui, assumiu, na velha casa, sendo já Félix secretário da redação e de fato redator-chefe, uma tarefa determinada e periódica. Mandava
de Paris, semanalmente, uma correspondência que constituía autêntica novidade no jornalismo brasileiro e creio que na imprensa diária do mundo. Eram resumos das mais notáveis obras literárias que iam aparecendo na Europa, na América. Assim um
romance se transformava num conto, e uma peça numa narrativa de coluna e meia a duas colunas.
Eram sínteses admiráveis, já pela dificuldade, que venciam, de nada de interessante suprimirem ou deixarem indeciso, já pela maneira como interpretavam, em linguagem modelarmente clara, a índole conceituosa, a organização técnica, o estilo,
finalmente a razão de ser do grande êxito primitivo. De volta ao Brasil, aceitou Medeiros e Albuquerque a seção dos Livros novos, que outro acadêmico da primeira hora, José Veríssimo, por bastantes anos e com solene autoridade, ocupara.
E ao processo mais que sisudo, rígido por vezes, de Veríssimo, sucedeu a fácil desenvoltura, a vivacidade luminosa de Medeiros, crítico, em verdade, bem diverso daquele e que só por excesso de benevolência pecaria.
Félix Pacheco, que chegou a diretor único do Jornal do Commercio, fez parte de várias diretorias do Petit Trianon, inclusivamente como secretário-geral, e se não desaparecesse tão cedo, a presidência lhe seria entregue automaticamente, a
bem dizer – e por unanimidade. Lá estava também Victor Viana, por bem pouco tempo, infelizmente, mas com firme e nítido destaque. E hoje um dos colaboradores titulares e infalíveis da nossa folha é, na Academia, uma das figuras de mais solene
estirpe e pelo saber mais respeitadas: Afonso de E. Taunay.
Tendo voltado aos colaboradores, falaremos – e já realmente devíamos ter falado – de Constâncio Alves, o qual, muitos anos antes de feito imortal, sobremaneira se ilustrara na seção de após as Várias, intitulada Dia a dia, que
mais tarde passava para o rodapé e para quinta-feira, chamando-se então A semana e por baixo Dia a dia. Nas duas crônicas ele ganhou foros de cultor inigualável da feição espirituosa que os franceses chamam pince-sans-rire.
Em Constâncio, porém, não envolvia ela maior malícia, nem tinha fundo agressivo; e só nas polêmicas, pela serenidade mesma e a irrepreensível cortesia das réplicas se tornava deveras temerosa.
Foram naquelas quintas-feiras que apareceram os capítulos – carinhosamente recolhidos por Afrânio Peixoto e por ele incluídos nas edições da Academia – do segundo e último livro do grande
bibliófilo e grande bibliógrafo: Santo Antônio. Membros correspondentes da Academia foram: Jaime de Séguier, que por alguns lustros manteve as duas seções: Ver, ouvir, contar e, com o pseudônimo Alter Ego, o Jornal dos jornais;
Alberto de Oliveira que, com Agostinho de Campos, enviou com impecável pontualidade, à nossa edição vespertina, os finos, leves, alados comentários dos Pombos correios; Antônio Correia de Oliveira, sem fôlego de prosador – não fosse ele
tão alto e produtivo poeta – que lhe permitisse animar, além de três ou quatro crônicas, a sua contribuição; e desde há um ano pertence à imorredoura corporação, o autor das Cartas sem data, sócio efetivo da Academia das Ciências de
Lisboa, ex-diretor do Diário de Notícias, atual embaixador português em Paris, Augusto de Castro.
Há ainda um correspondente que, faz pouco menos de meio século, se radicou e ainda hoje, como Deus é servido, milita no Jornal do Commercio. Desse, porém, acho eu que não vale a pena falar.
[*] Pseudônimo de Armando Erse
(1875-1950), português radicado no Brasil. Contista, teatrólogo, jornalista, colaborador em diversos periódicos paulistas, entrou para o Jornal do Commercio em 1901. Foi membro da ABI, da SBAT e correspondente da ABL. O artigo aqui
publicado saiu na Ilustração Brasileira – Dezembro de 1946. |