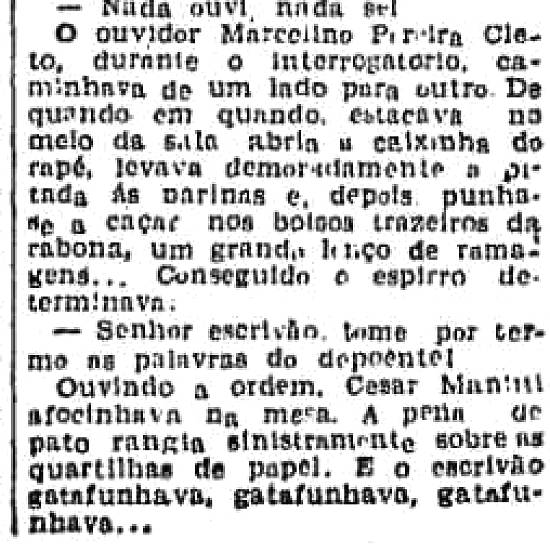As cenas que vamos contar passaram-se no inquieto ano de 1786, sob o reinado de Luís XVI e Maria
Antonieta. O céu da Europa já estava carregado de nuvens que, três anos depois, se iluminariam de relâmpagos, se desmanchariam em tempestades. Do
outro lado do Oceano, a América Inglesa acabava de conquistar a independência. Três grandes nomes andavam de boca em boca: Washington, Jefferson e
Franklin.
Os franceses que La Fayette transportara para o Novo Mundo começaram a desembarcar de volta da
grande aventura e contavam as maravilhas da nova República, onde não havia aristocratas e todos os homens nasciam com os mesmos direitos. Ali —
contavam eles — os costumes eram singelos e puros, o trabalho tornara-se uma honra para todos, como queria Nosso Senhor Jesus Cristo.
Nas rodas de letrados dizia-se que J. J. Rousseau, tipógrafo suíço, que se tornara famoso pelas
suas ideias de um mundo diferente, fora convidado para redigir a Constituição de um dos Estados da Confederação Norte-Americana. Comentava-se tudo
isso. Comparava-se. Os antigos soldados de Rochambeau contavam a toda gente as alegrias do homem livre sobre a terra livre.
Imagine-se a repercussão de tais palavras no povo, principalmente nos estudantes que, por
trazerem o coração aberto e a alma ansiosa, logo se inflamavam de entusiasmo. As Universidades transformavam-se em viveiros de reformadores. Entre
essas Universidades, a de Montpellier.
Sob o céu profundo do Meio-Dia da França, estendia-se a velha cidade erguida ainda no tempo dos
Césares romanos, na confluência de dois riachos — o Lez e o Verdanson. Uma rua cortava pelo meio o casario. De um lado, erguia-se a povoação
construída nos últimos séculos, obedecendo à arquitetura francesa. Eram ruas de prédios com dois ou três andares e telhados de um negro-azulado,
ostentando na platibanda a pique óculos de arejamento e janelinhas de trapeiras. Do outro lado, na direção da cidadela, povoada pelos fantasmas que
ali se esconderam depois da noite de São Bartolomeu, estava a cidade velha, de tempos imemoriais, com vielas estreitas e tortuosas, travessas,
becos, escadinhas, pátios conventuais, casas de pigneon-sur-rue [N.E.: tipo de casa com sacada saliente] e
extensas arcarias de pedra sobre as quais medravam as parietárias e as mulherinhas de ganho estendiam, para enxugar, a roupa remendada de seus
homens.
Ali perto ficava a Faculdade de Medicina. Ela ocupava o antigo convento dos Beneditinos, ao lado
da igreja de São Pedro. Era um prédio velho, escuro, chato, com duas ordens de janelas sobre a praça de São Pedro, mal empedrada, rodeada de
venerandas construções. Os sinos da igreja confundiam-se com os da escola. Pelo pátio, passavam carruagens, não raro com mais de uma parelha, o
cocheiro na boleia e os dois sotas trepados atrás. E liteiras com filetes de ouro e miniaturas a óleo, cortinas de damasco e ornamentos de talha. E
festivos grupos de estudantes, o tricórnio para trás, a capa esvoaçando ao mistral.
Nas imediações, improvisavam-se tendas sob as quais se amontoavam alcôfas de figos secos, caixas
de uva-passa, cestas de maçãs, queijos, azeitonas, mariscos de Marselha e caracóis de Avinhão. Em algumas delas, oscilava um ramo de louro pendurado
à porta; ao vê-lo, os transeuntes sabiam que, lá dentro, num retalho de sombra, servido por arlesianas de colo apertado em colete de veludo, cabelos
em cachos, velados por touquinhas de renda, encontravam vinho de Montmellian, chouriços de Montpellier-le-Vieux e pastéis de nata do convento das
Claristas.
Outras tendas eram ocupadas por mercadores de livros. Nas cantoneiras alinhavam-se as lombadas
escuras. Eram obras do sr. de Voltaire, ou de J. J. Rousseau, ou ainda daqueles enciclopedistas que muitos malsinavam, mas acabavam comprando, para
ler às escondidas. Nos últimos dias, aparecera uma novidade: as obras do abade Reynal. Uma, a História da Filosofia; outra, a narração da
vida singela e acolhedora da gente americana que, havia pouco, se constituíra em República.
E alfarrabistas, onde o estudante entrava, piscava um olho finório para o mercador e ele lhe
passava, por debaixo da capa, um daqueles folhetos contra Monseigneur e Madame, impressos em Paris mas sem indicação de autor, nem de
impressor. E adelos, onde se comprava uma fatiota, ainda em bom uso, por dez-réis de mel coado, traje vendido na véspera por estudante em aperturas,
para jantar metade de um coelho.
A Faculdade de Medicina ainda conservava no seu ar conventual a memória de certo estudante que
por ali passara, havia mais de duzentos anos, com o nome de François Rabelais. O rapaz tinha o diabo no corpo; sabia demais para o seu tempo.
Fingira de frascário para esconder a santidade. Vestira o burel para ter licença de escrever. Tornara-se truão para contar aos homens, como fosse
possível, a utopia social de Teléme.
Estava-se no fim do século XVIII e os estudantes continuavam na mesma vida. Eram pobres e vinham
de longe. Havia entre eles os que se confundiam com os mendigos. Os que comiam na Estalagem do Escudo e, na hora ansiosa do pagamento, saltavam pela
janela dos fundos. E os que se empenhavam em rixas, à beira do Verdanson. Moravam no velho bairro, em becos escusos e escadinhas que grimpavam pelo
morro. Suas casas eram as velhas casas de pedra, com janelas de arco. E eles dominavam o bairro. Quando a noite era de lua, vagabundeavam até tarde
aos grupos, cantando sátiras políticas ou "quatrains" licenciosos.
Os burgueses assustadiços levantavam-se da cama e, em camisola, barrete de lã, vela espetada na
palmatória, abriam cautamente a janela, para xeretear o que se passava. Mas tinham de fechá-la depressa, diante da algazarra e dos apupos.
Na tarde de 2 de outubro desse ano de 1786, a igreja de São Pedro adormecia na tranquilidade do
costume. De repente, porém, lá para as bandas do Aqueduto se ouviu o ruído de rodas de ferro, o bater de ferraduras sobre o empedramento, os gritos
de um cocheiro, o silvar do seu chicote e, dentro de pouco, entrou pela praça, atropelando mulheres e mendigos, a diligência de Avinhão.
Os animais estavam molhados de suor e arquejavam. O cocheiro saltou da boleia e correu à casa que
apresentava um ramo de louro. Ia, naturalmente, tomar o seu trago, pois trazia a garganta ardida pela poeira das estradas, naquele dia de calor
mediterrâneo. De lá, saiu enxugando os beiços na manga do casaco. Só então, subiu à traseira do carro e pôs-se a retirar as malas que vinham na
coberta, alinhando-as no chão.
Os passageiros, que já haviam desembarcado e trocavam entre si as despedidas, depois de algumas
horas de perigo e aborrecimentos em comum, foram tomando das bagagens e desaparecendo nas esquinas. Um padre, uma mulher entre duas cestas, três ou
quatro rapazes, um soldado do rei, duas moças de grandes chapéus de palha, com fitas azuis que lhes desciam até à cintura.
O último a saltar foi um rapaz de vinte e poucos anos. Vestia casaca preta, calções cor de
azeitona, meias cinzentas e sapatos de couro, com fivelas de metal. Seus cabelos amarrados junto à nunca, desciam num molho sobre o lenço de cores
que lhe resguardava o pescoço. Trazia as mãos ocupadas; numa delas a mala, na outra o livro que, certamente, procurara ler durante a viagem. Era
estrangeiro. Denunciava-se à primeira vista. O rosto e as mãos pareciam tisnados pelo sol de outras terras, de outros mares. E quando se dirigiu à
pessoa que sentara a seu lado, desejando-lhe felicidades, os demais viajantes perceberam que ele, embora falando corretamente o francês, tinha um
sotaque macio, difícil de identificar.
Era um letrado do Brasil, chamava-se José Pereira Ribeiro. Nascera em Congonhas do Campo,
estudara em Coimbra e, depois de formado em leis, sentiu-se tentado pelas viagens. Atravessara a Espanha e chegara à França. Em Paris, ficara
conhecendo diversos compatriotas, entre os quais Domingos Vidal Barbosa, José Mariano Leal, natural do Rio de Janeiro, que, mais tarde, deveria
regressar à pátria na companhia do vice-rei conde de Rezende, e o simpático José Maria da Maia, também carioca.
De fato, esse último bem merecia o qualificativo de simpático. Era muito moço, lutando
desesperadamente para viver com a escassa mesada que recebia do pai, através do seu correspondente no Porto. Uma insignificância. Vestia-se com
excessiva modéstia. Deixava de comer, para comprar livros. Parecia mais preocupado com os destinos da pátria do que com o curso que pretendia fazer.
Era inteligente, culto e apaixonado por aquilo a que, na roda de patrícios, chamava "a nossa independência".
Quem o ouvia falar, ficava certo de que, dali a pouco, o Brasil seria uma República, abriria os
portos ao comércio mundial e criaria não se sabe quantas universidades, para a elevação intelectual do seu povo.
Mas o pior é que a saúde não o acompanhava nesses devaneios. De quando em quando, tinha acessos
de tosse, que o punham exausto. Parecia que ia morrer. E nos últimos tempos o mal se agravou de tal maneira que, em julho, os amigos o aconselharam
a transferir-se para o Meio-Dia da França e matricular-se na Universidade de Montpellier, pois, se permanecesse em Paris, naquela vida de trabalhos
e aperturas, o outono ou o inverno o levariam para a cova, entre as folhas mortas.
Ele acedeu e, certa manhã, tomou a diligência para os lados do Mediterrâneo. Depois, escreveu aos
amigos, mandando-lhes o endereço. Mas, com o correr dos meses, as cartas fizeram-se espaçadas.
De regresso ao Brasil, desejando tomar o veleiro em Marselha, José Pereira Ribeiro resolveu
passar por Montpellier, e fazer uma visita ao patrício. Foi assim que o vimos descer da diligência no pátio da igreja de São Pedro.
Mal tinha começado a caminhar, sobreveio-lhe uma dificuldade. Pensou:
— Mas onde diabo será esta rua, de nome tão estranho?
Tirou do bolso um papel e leu-o de novo. Era assim mesmo. Dirigiu-se a um amolador postado na
esquina e pediu-lhe informações. O homenzinho falava língua gutural, difícil de entender. Mas, pelo gesto que o remetia às bandas do Aqueduto,
agradeceu-lhe. Iria para aquelas bandas; lá chegando, perguntaria a outro transeunte. Assim fez.
A rua era estreita, mal calçada, com frades-de-pedra (N.E.: colunas
pequenas de granito colocadas nas ruas para impedir a passagem de veículos) pelos cantos. Quando por ali passava um carro, atravancava-a de
lés a lés, tornava-se preciso esconder-se num portal. E isso lhe aconteceu mais de uma vez. Primeiro, foi um carro de feno e, mesmo estando para
dentro de uma loja, espanou-lhe o rosto com a verdura cheirosa. Depois, foi estranha carroça com uma pipa equilibrada entre sarrafos de madeira.
Quando o veículo passou, sentiu pelas narinas o cheiro agradável de mosto. Devia ser de vinho aquela pipa.
Nas janelas estreitas, mulheres de toalha na cabeça falavam de um lado para outro da rua.
Crianças quase nuas rolavam nos palheiros. Passou por um ferrador. A oficina constava apenas de uma porta, mas era larga como a entrada de um beco.
Lá dentro havia cavalos, forja, homens de tronco nu, a martelar ferro incandescente sobre a bigorna.
Parou na porta de um carvoeiro e perguntou, novamente, pela rua a que se destinava. O saloio, que
de branco só tinha o branco dos olhos, pôs-se a enrolar a língua dentro da boca e, por fim, indicou-lhe uma esquina, lá longe... Era isso o que
desejava. Alguns passos e, já farto de tanto perguntar, entrou pela travessa.
Mais adiante, surgiu-lhe a casa indicada na carta. Prédio escuro, de duas águas, com balcões de
madeira sobre a via pública. Embaixo, casa de vinhos, com largas mesas e mochos de cedro. Cavouqueiros sentados diante de picheis de barro comiam
pratarrazes de carne, coberta de legumes e azeitonas. Dentro da taverna, havia uma escada. Sem dirigir-se a ninguém, subiu por ela acima. E ficaria
indeciso se, das portas que davam para o corredor, não ouvisse uma tossezinha seca. Era a tosse do Maia.
Seria mesmo? Não quis bater antes de ter a certeza. Foi ao fundo e viu que o prédio acabava sobre
o riacho de águas sujas que tem um nome e os dicionários assinalam outro. Era o Verdanson. O Verdanson que carreava dia e noite o lixo da cidade...
Não havia a quem perguntar... E se não fosse? Empurrou a porta. À luz que descia da janela, um rapaz estava arcado sobre a mesa, escrevendo qualquer
coisa...
— Maia!
— Olá! És tu, Ribeiro?
O visitante entrou e depositou a mala sobre o catre. Maia deitou a pena de pato sobre o tinteiro
de estanho e correu para ele. Abraçaram-se. Perguntas e mais perguntas. Depois, passada a emoção do encontro, um sentou-se diante do outro e ficaram
a conversar.
Quem seria aquele Maia que, em outubro de 1786, o doutor José Pereira Ribeiro foi visitar em
Montpellier, num velho bairro, onde as ruas tinham nomes que pareciam apelidos? Vamos fazer o possível para contar aos leitores.
José Joaquim da Maia nascera no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, filho de modestíssima família.
Recebeu no Seminário da Lapa as primeiras lições de literatura. Depois, saiu, naturalmente, para seguir humilde profissão. Mas logo viu que isso
seria impossível para o seu temperamento, como também para a sua débil saúde. Moço culto, cheio de sonhos, não se conformou com a vida que, naquele
tempo, lhe poderia oferecer a terra natal. Desejou estudar leis.
A princípio, o pai não viu a fantasia com bons olhos. Filho de pedreiro só poderia ser pedreiro.
Mas o rapaz, voltando do Seminário, continuava a estudar. Altas horas da noite, o velho via luz no seu quarto. Era o filho que devorava livros e
mais livros.
Ao mesmo tempo, passara a falar de assuntos pouco recomendáveis. Para tudo, ele encontrava
remédio na independência do Brasil. Citava a cada passo a independência da América Inglesa. Estava ao par dos grandes problemas da nacionalidade e —
o que era pior — conhecia os meios de resolvê-los. Dentro de pouco, profetizava o pai, os alguazis lhe botariam a mão. E, com ele, a família
inteira.
Para agravar-lhe ainda mais a conduta, começou a ausentar-se de casa. Passava dias inteiros não
se sabia onde. E, muitas vezes, tarde da noite, recebia a visita de uns homens que, a julgar pela poeira e fadiga, deveriam ter chegado de longe.
Mais dia menos dia, a vizinhança começaria a temê-lo, e apontá-lo com o dedo. E o velho se amofinava. Estava-se num tempo em que estimar os livros
era atestado de má conduta. O rapaz definhava, enlanguescia. Começou a manifestar sintomas que o velho pedreiro denominou de consunção. Até que uma
noite, penalizado, chamou o filho de parte e disse-lhe:
— José, vou te dar uma grande notícia. Acabo de reunir os haveres e pretendo despachar-te pela
primeira nau para Portugal. Já que nasceste para os livros e não há mão que te arrede do ingrato caminho, seja feita a vontade de Nosso Senhor...
Assegurar-te-ei uma anuidade de 120$000, que poderás receber no Porto, em casa do Faria Neto. Que dizes a isso?
O moço quase enlouqueceu de alegria. Não por ir estudar em Coimbra, mas por conhecer a parte da
Europa que mais lhe importava. E, pressuroso, correu a determinados lugares, dando a alvissareira nova. Ao que parece, foi-lhe confiada a missão de
interessar governos e povos num projetado movimento revolucionário cujo fim seria a independência do Brasil.
Na semana seguinte, entre lágrimas e adeuses, partiu ele para Lisboa. Demorou-se algum tempo em
Coimbra e, quando menos se esperava, ei-lo que se dirige à fronteira e, gastando de uma só vez quase todo o dinheiro que deveria bastar-lhe por um
ano, chegou à França. Meses depois, sabemo-lo em Paris, tratando mais da libertação da pátria do que do estudo das leis. Foi ali, como dissemos, que
José Pereira Ribeiro o conheceu e dele se fez amigo.
Pereira Ribeiro, lembrando essas coisas, pôs-se a rir.
Diante dele, José Joaquim da Maia, vendo-o sorrir, sorriu também. Mas, interpretando mal o
sorriso do amigo, perguntou-lhe:
— Achas mesmo que estou ficando maluco?
— Ora essa... Quem acharia tal?
— Pois eu faço o que posso. Trabalho como um mouro.
— E que fazias quando entrei?
— Escrevia esta carta...
Foi à mesa, tomou de um papel e, procurando a claridade, leu-o ao amigo. A carta dizia
assim:
"Montpellier, 2 de outubro de 1786 — M. Thomas Jefferson — Digníssimo Embaixador da República da
América do Norte — Paris.
Monsenhor. Eu tenho uma coisa de muita importância a comunicar-vos, mas como o estado de minha
saúde não me permite poder ter a honra de vos encontrar em Paris, rogo-vos ter a bondade de me dizer se posso com segurança comunicá-la por carta,
pois que eu sou estrangeiro e por conseguinte pouco entendo dos usos do país. Peço-vos perdão da liberdade que tomo e rogo-vos endereçar a resposta
a mr. Vigarons, conselheiro do rei e professor de Medicina da Universidade de Montpellier... "
José Pereira Ribeiro arregalou os olhos e perguntou:
— Vais assinar esta carta?
— Vou.
— Com o teu nome...?
— Não. Assinarei... Wendeck!
Ambos acharam graça. Ribeiro convidou Maia para jantar. Daí a pouco, desciam ruidosamente a
escada e se precipitavam na rua. Já era tarde. A cidade estava escura. Algumas lanternas, penduradas nas esquinas, mal indicavam o caminho. Afinal,
chegaram ao Largo de São Pedro. Ali, estacaram diante de uma porta onde ardia um archote de azeite. Era a muda da diligência. Maia tirou da
algibeira do casaco uma carta lacrada e entregou-a ao cocheiro, pagando o porte até Paris.
Depois, ambos entraram numa casa afamada entre os estudantes. Havia duzentos anos que a Estalagem
do Escudo vinha passando de pais a filhos. Desde o tempo de mestre François Rabelais que ali se comia um famoso coelho guisado com legumes, regado
por um vinhito áspero, mas gostoso, colhido nas escarpas de Saint Julien des Rochers. Os dois amigos estavam contentes. Aquilo custava os olhos da
cara, mas, que diabo! — ficaria na sua lembrança para o resto da vida...

Imagem: reprodução parcial da pagina de 6/8/1944 com o
texto
O bacharel José Pereira Ribeiro passou alguns dias em Montpellier, na companhia do amigo. Certa
manhã, tendo recebido de seu correspondente, em Paris, a informação de que um barco ancorado na Joliette estava prestes a levantar ferros, com
destino ao Brasil, comunicou a José Joaquim da Maia que partiria para Marselha, naquela mesma tarde.
Pouco antes da hora da diligência de Marselha, o letrado tomou da mala e partiu, acompanhado por
Maia. Este, ao sair, apenas cerrou a porta.
— Não fechas o quarto?
— Não posso. O velhaco do estalajadeiro, quando me arrendou a pocilga, deu-me esta chave que pesa
um quarto de libra e, dias depois, a fechadura já estava enguiçada. Também, ladrão, que penetre no meu quarto, não é ladrão, é humorista...
Já se encontravam no meio da escada, quando Ribeiro se lembrou de alguma coisa.
— E o meu barrete de lã? Deixei-o na cabeceira da cama. Espere aí um momento, que eu volto ao
quarto.
Sem dar tempo ao amigo para acompanhá-lo, subiu ao primeiro andar e de lá voltou com o agasalho
comprado na véspera e que anunciara ter esquecido. Levava-o para defender-se do frio nos primeiros dias da viagem antes de alcançar o Equador. E,
conversando e rindo, os dois já iam desembocar na porta da rua, quando foram acotovelados por um sujeito felpudo, de capa pelos pés, que entrou
estouvadamente. Ribeiro olhou-o de soslaio:
— Quem é este tipo de cara chamuscada?
— Não sei. Vejo-o sempre por aí.
Logo depois, estavam na Praça de São Pedro. Não demorou e ouviu-se o estrépito da diligência do
Mediterrâneo. A caranguejola chegou como um furacão. Passageiros que embarcam, passageiros que desembarcam. Bagagens tiradas do tejadilho e
alinhadas no chão. Malas-postais entregues aos correios que as esperavam. Despedidas pelas janelinhas estreitas. Ribeiro apressou-se a ocupar o seu
assento e, quando o cocheiro assoprou na trompa anunciando a partida, olhou pela abertura que lhe ficava mais próxima. Maia estava encostado à
parede da Estalagem do Escudo e sacudia o lenço, num adeus.
Quando a diligência se perdeu por trás da Faculdade de Medicina, num clamor de trompa, num silvar
de chicote, num raspar de ferraduras sobre pedras, o estudante pensou consigo: "Não o verei jamais." Os olhos se lhe umedeceram. E, de alma
melancólica, voltou ao quarto. Não tinha ânimo de ler, de escrever, de nada. Resolveu deitar-se, mas ao acomodar o travesseiro, ouviu inusitado
tilintar de moedas.
"Que será isto?" E ficou maravilhado: lá estavam cinco luíses de ouro, soma respeitável para um
estudante de Montpellier, naquele sombrio ano de 1786. Recolhendo e contando as moedas, não pode deixar de falar sozinho:
— Bondoso amigo! Foi para deixar-me esta riqueza que ele afetou esquecer-se do barrete de viagem!
Com aquele dinheiro, procurou realizar um velho desejo, que era o de passar duas semanas na vida
simples do campo, mudando de paisagens e de ares. Dirigiu-se a Montagnac e hospedou-se numa estalagem, à beira da estrada. A localidade era
montanhosa, mas florida. Estava-se em outubro, no entanto, o outono ainda não se fazia sentir. Apenas de manhã e de tarde um vento frio: as árvores
tremiam, as folhas se despregavam e rolavam pelos ramos, atapetando os caminhos. O estalajadeiro, homem gordo, de avental e barrete branco, deu-lhe
uma cama debaixo do óculo da trapeira.
Sempre que o estudante descia do pouso, passava pelo rés-do-chão atijolado, que servia de cozinha
e sala de jantar. Ao centro, mesa grande, sem coberta, ladeada por dois bancos rústicos. Sobre as portas, galharia de veados. Nas paredes, pinturas
representando cenas de caça. Um cuco. Um santo. E cantoneiras com flores silvestres. Ao fundo, o imenso fogão, sempre aceso, queimando troncos de
madeira cheirosa. À esquerda, prateleira sobre a qual se enfileiravam grandes rodas de queijos, suando gordura. E botijas de licores. Embaixo da
prateleira, na sombra, enfeitada com verde ramo de louros, avultava obesa pipa de vinho dos arredores, glória da casa. Debaixo da torneira, um
ancorote, com duas asas, aparava as gotas de vinho que respingavam. Eram lágrimas grossas e sanguíneas como bagas de uva.
A mulher do estalajadeiro tomava conta da cozinha. Gorducha, rosada e limpa, tinha qualquer coisa
de maçã. Ora cantava, ora ralhava com os bichos. Esses bichos-de-cozinha eram dois rapazelhos de pantalonas que se ocupavam em virar coelhos,
cabritos e quartos de carneiro num espeto, sobre o borralho. Enquanto o mais taludo manejava a manivela, o menor, entornando uma malga
(N.E.: tipo de tigela vidrada), ia derramando molho de manteiga sobre o courinho tenro dos assados. Mas quando a
mulher se distraía, um deles ia à pipa, sopesava o ancorote com ambas as mãos e entornava-o sobre a boca aberta, escorrupichando-lhe até à última
gota. E os madraços se revezavam naquelas gracinhas.
Na frente da estalagem, o chão rebentava em verdores. Sobre as corolas úmidas esvoaçavam abelhas.
Nos campos revolvidos pelo arado, homens e mulheres trabalhavam de sol a sol; tinham a paciência e a tristeza dos bois. Mas havia também um mendigo.
Chamavam-no de Père Paillot. O Meio-Dia só sabia de neve por ouvir-dizer. Assim mesmo, quando o inverno ainda andava lá pela casa de Deus já o
maluco se entregava à confecção da vestimenta. Tomava a palha de trigo da última sega, cochava compridas cordas e, com elas, tecia grosseiramente o
manto, o colete, o chapéu, as calças e as botas. Depois era de vê-lo, sob essa armadura dourada, a arrastar-se pelos caminhos ásperos de Montagnac,
provocando a risota dos vadios.
Père Paillot fazia ponto no banco de pedra, à porta da estalagem. Todas as manhãs ia para lá
aquecer-se ao sol. Os pardais vinham pousar-lhe no chapéu, julgando-o, naturalmente, uma meda (N.E.: amontoado de molhos de
cereais formando um cone) de estrume.
O mendigo sorria. Sentia-se feliz. E, durante horas, não fazia um só movimento, para não assustar
as avezinhas... Só se levantava dali quando pela estrada real uma cavalgada ou vistosas carruagens de Paris faziam alto com estrépito. Então
estatelava-se no caminho, estendendo aos viajantes os braços de palha, onde apareciam mãos de terra. Homens vestidos de casaca de veludo claro, cor
de topázio, ou de esmeralda, com calções de seda, tricórnio e peruca empoada, despejavam no chão as escarcelas, a fim de que ele, desajeitado como
boneco de engonço, apanhasse com dificuldade as pequeninas moedas. As mulheres, de grandes vestidos e altos penteados, davam gritos e riam a
bandeiras despregadas. Uma festa! Os cavalheiros estendiam a mão às damas e conduziam-nas à estalagem. Elas, porém, alarmavam-se com os patos que se
trançavam pelo caminho. E eram correrias, risadas. Depois, abancavam-se à mesa grande, ao calor do fogão, e se excediam em guisadas e pichéis,
acabando tudo numa canção.
José Joaquim da Maia, certa vez, ouviu um diálogo. Terminou numa exclamação:
— Milagre como esse, nem o sr. de Cagliostro!
Era a gente que, esfalfada pelas noites de Versalhes, corria para as águas milagrosas da
Provença, onde mocidade e saúde borbulhavam do chão, em cálidas e cristalinas fontes.
Refeitos, os parigots (N.E.: termo francês levemente pejorativo
para designar os parisienses) voltavam aos cavalos, às carruagens. Então, nas suas costas, acendia-se o ódio. A dona da casa, com a pá numa
mão e a frigideira na outra, arremedava o passinho miúdo das senhoras. O estalajadeiro botava as mãos nas ilhargas e ria até às lágrimas. Os
bichos-de-cozinha batalhavam com os espetos gordurosos. Père Paillot, no terreiro, dando mostras de agilidade que estava longe de aparentar,
punha-se a bailar numa perna só. E, no campo semeado, onde só apareciam os coágulos vermelhos dos coquelicots (N.E.:
nome vernacular da papoula de milho selvagem. Um quadro famoso do pintor Claude Monet é Les Coquelicots, pintado em 1873), os saloios
erguiam para o céu os braços negros. Estava-se em 1786. Aquilo era a insurreição que se aproximava. Era a maré montante da cólera que, dentro de
pouco, deveria desencadear o Terror.
Gasto o último luís naquela vida, José Joaquim da Maia despediu-se e regressou a Montpellier. A
estada no campo fizera-lhe grande bem. Apeou à noite na velha cidade universitária. No dia seguinte, preocupado com a resposta do embaixador
americano, esperou que os sinos da faculdade tocassem a aulas e grimpou pela escadaria do antigo convento. Um bedel, que o conhecia de vista,
perguntou-lhe:
— Afinal, encontro-o! É, de fato, o sr. da Maia?
— Sim.
— O professor Vigarons deseja falar-lhe. Ele está trabalhando na biblioteca.
A biblioteca estava instalada numa sala escura, toda envernizada, com janelinhas sobre a cidade
velha. Silêncio. Meia luz. Nas quatro mesas de carvalho, sombras debruçadas sobre livros. Achou o professor Vigarons, seu amigo, encostado à
estante, procurando alcançar um in-fólio (N.E.: o termo latino se refere ao formato da folha de impressão, dobrada em duas)
da quarta prateleira. Era magro, baixo, vestido de preto, com a peruca arrebitada, naturalmente pelo hábito de vergar-se para trás, a fim de
alcançar livros nas prateleiras superiores. Seu rosto pareceu-lhe apergaminhado. No entanto, os olhos pequenos e vivos continuavam perfurantes. Ao
ver o rapaz, continuou no trabalho, sem um gesto nem uma exclamação, para não dar importância à conversa.
— O sr. embaixador escreveu-me, pedindo referências a seu respeito. Dei todas as que julguei
úteis. Pedi-lhe, no entanto, que não utilizasse o seu nome, porque a diplomacia portuguesa está vigilante e um deslize poderá trazer grandes penas
lá longe, na colônia. Junto com a minha carta, veio esta outra, que lhe é destinada...
Do bolso da casaca, tirou um livro de Voltaire. Dentro desse livro, havia uma carta. Entregou-a
ao estudante. José Joaquim da Maia recebeu-a de mãos trêmulas. Depois de agradecer ao professor, correu ao quarto, sentou-se à mesa e escreveu longa
resposta que começava assim:
"Montpellier, 21 de outubro de 1786. — Monsenhor — Acabo de receber a honra de vossa carta e
estou triste de não a ter recebido antes. Mas fui obrigado a ficar no campo até ao presente, devido à minha saúde; e como vejo que as minhas
informações chegarão seguramente, vou ter a honra de vo-las comunicar. Sou brasileiro e vós sabeis que a minha infeliz pátria geme numa escravidão
que se torna cada dia mais insuportável, desde a época da vossa gloriosa independência etc."
E terminava com estas palavras:
"Eis aí, monsenhor, de modo mais ou menos preciso, o resumo das minhas intenções. E foi para
realizar essa comissão que eu vim à Europa, pois que na América teria sido impossível mover um passo e não despertar desconfiança. A vós pertence,
agora, decidir se pode executar-se a empresa. Se quereis consultar a vossa nação, estou pronto a oferecer-vos todos os esclarecimentos precisos".
Mandou a carta e ficou à espera do resultado. Foram dias de inquietação e ansiedade. Todas as
manhãs, quando o sino da faculdade tocava a aula, subia pela escada conventual e se dirigia à biblioteca. Algumas vezes encontrava o professor
Vigarons, que o cumprimentava com um modo indiferente como fazia com os demais estudantes que lá entravam. E o brasileiro todo se amofinava.
Ter-se-ia desinteressado da questão? Acharia prudente afastar-se daquele caminho?
A verdade era que naqueles dias a situação da França já impunha comedimento, e Vigarons era
conselheiro do rei. Uma força misteriosa imiscuía-se por toda parte. Em nome da segurança pública revistava-se tudo. Auscultava-se o pensamento dos
homens. Além disso, era preciso contar com a atividade da diplomacia portuguesa. Seus agentes espalhavam-se pela Europa, talvez policiando os
brasileiros, que por ali andavam. Principalmente os estudantes.
Numa das visitas à faculdade, pensando nessas coisas, já disposto a urdir novo meio de
comunicações com o embaixador americano, encontrou o professor Vigarons. Ele seguia pelo corredor umbroso. Mostrava-se discreto. Nada na sua figura
traía entusiasmo ou decepção. Mas, ao ver o estudante, chamou-o com um dedo:
— Achei o livro. Venha cá.
Entraram na biblioteca. Vendo que estavam sós, tirou do bolso um exemplar do Emílio de J.
J. Rousseau, e de dentro de suas páginas sacou um papel timbrado.
— Cá está mais uma carta do embaixador.
Quando o rapaz quis agradecer-lhe, já o velho havia desaparecido; estava numa roda de rapazes que
lhe contavam qualquer coisa de engraçado. Maia não quis importuná-lo com agradecimentos e despencou pela escada. Na rua, sentado num frade-de-pedra,
leu:
"Paris, 27 de dezembro de 1786. — Senhor. — Eu espero a cada instante fazer uma viagem às
províncias meridionais da França. Tardei a responder à vossa carta de 21 de outubro esperando já poder comunicar-vos o dia da minha partida, e o dia
e o lugar em que poderia ter a honra de vos encontrar. Mas até este momento não foi decidido. Teria seguramente a honra de vo-lo comunicar um
encontro em Montpellier ou suas vizinhanças".
Essa carta, vinda de Paris em qualquer diligência, só chegou às mãos de José Joaquim da Maia a 4
de janeiro. No dia seguinte, ele escreveu a resposta:
"Excelentíssimo. A notícia que acabo de receber da vossa viagem nesta parte da França deu-me um
grande prazer, e dela me felicito, pois que era para mim indispensável ter a honra de falar-vos, e o estado de minha saúde não me permite fazer uma
viagem a Paris. Se eu pudesse saber o dia da vossa chegada a Nimes e vosso endereço, não deixaria de ter a honra de ir ao vosso encontro. Estou
pronto a fazê-lo em qualquer outro lugar de vosso agrado. Apenas, aguardo para tanto as vossas ordens".
As cartas foram interrompidas nesse ponto.
A entrevista, a julgar pela comunicação de Jefferson, a John Jay, ministro do Exterior da América
do Norte, numa carta datada de Marselha, em 4 de maio de 1787, depois de sua estada em Aix, deveria ter-se realizado em fins de março, ou começos de
abril, em Nimes, debaixo de um daqueles monumentos, que datam do tempo dos romanos. Portanto, durante dois meses, pelo menos, a vida do estudante,
em Montpellier, foi inquieta e o fogo da esperança animou-lhe a existência combalida. Durante esse período, passou privações no intuito de
economizar dinheiro, comprar roupa e poder apresentar-se melhor ao homem que, para ele, representava a própria liberdade da pátria.
Não dispôs de agasalhos para o inverno. Nas longas noites de janeiro, e talvez fevereiro, seu
quartinho foi o único de toda a velha cidade em que não ardeu braseiro de carvão. E, à medida que se aproximava a data marcada por Jefferson, foi
vendendo o que tinha: roupas, livros, lembranças da família, a ele dadas na hora melancólica da partida. O correspondente no Porto recebia suas
cartas desesperadas e fazia ouvidos moucos.
Mas veio a primavera. Abril passou pela Provença com seu manto real, de brotos verdes e de
flores. As vinhas renasceram pelas encostas. As oliveiras revestiram-se de folhas escuras. Os pequenos jardins repontaram das cinzas de que estavam
cobertos. As aves apareceram em revoadas sobre os telhados e as borboletas sobre os campos. E a grande data a aproximar-se...
Certa manhã, José Joaquim da Maia reuniu os cobres de que dispunha, correu ao adelo e fez o
mercador arriar sobre o balcão as casacas, sapatos e chapéus pendurados no forro. De lá, saiu vestido como pôde, não como desejava. No dia seguinte,
o filho do pedreiro da Lapa foi para a Praça de São Pedro, diante da Faculdade de Medicina, e tomou lugar na diligência para Nimes. Quando o carro
estacou com estardalhaço, e ele se apressava a tomar assento, surgiu-lhe do chão o tipo da cara chamuscada. O homenzinho pendurou-se à janela do
veículo e falou-lhe, em português:
— Bom-dia... Aonde vai com tanta pressa?
José Joaquim da Maia ficou surpreso.
— De onde me conhece?
— Daqui mesmo. Sou do Porto. Negocio com pedras preciosas. Moro no quarto contíguo ao seu.
— E só agora me dirige a palavra?
O desconhecido embatucou. Mas logo se refez.
— Quase não vou ao quarto. Ando à vida. Com que então vai a Nimes?
— Como vê.
— Pode-se perguntar o que o leva a essa cidade?
— Entre gente da mesma língua, não há mistérios. Vou encontrar uma cigana que conheci nas festas
de Santa Maria Egipcíaca.
O homem de cara chamuscada fingiu acreditar e pôs-se a rir. Quando a diligência partiu, ao som da
trompa e ao silvar do relho, José Joaquim da Maia ainda o viu de pé, junto da Estalagem do Escudo, talvez desgostoso por não poder seguir-lhe a
treita, naquela terrível aventura...
A diligência mudava de cavalos de légua em légua, diante de tavernas onde os passageiros
encontravam, a qualquer hora, o caneco de aguapé e o torrão de amêndoas cobertas de mel. Além disso, cada povoação de relais
(N. E.: local em que os animais cansados das viagens são substituídos por outros, para a etapa seguinte do percurso)
tinha a sua especialidade em forno e fogão. Os viajantes que não se sentiam tentados pela gula deixavam-se ficar no veículo, as pernas espichadas
sobre o banco, conversando à vontade.
Os moços, quase sempre, desciam à estrada, entretinham-se debaixo das grandes árvores, ou
deitavam-se ressupinos sobre a relva, o chapéu a proteger os olhos, livres dos sacolejos que haviam sofrido durante horas. Feita a muda, decorridos
os minutos regulamentares, o cocheiro subia à boleia, soprava na trompa que trazia a tiracolo e os cavalos descansados venciam a galope as léguas
seguintes. Foi assim que a diligência de Montpellier chegou, ao anoitecer, na velha cidade calvinista de Nimes, estacando com estrépito diante da
estalagem à l'enseigne da Lebre de Ouro.
José Joaquim da Maia apeou, entrou na casa-de-pasto famosa por suas trufas refogadas em vinho
branco, e ali se hospedou. Um vasto prédio, com teto de duas águas, numa das quais emergia a chaminé quadrada, construída de pedra. O rés-do-chão
era ocupado pela sala de jantar que, como muitas vezes acontecia, participava da cozinha. Entrando, o estudante sentiu-se confortado pela presença
do enorme fogão e pelos felpudos troncos de azinheiro que nele ardiam. Os caldeirões estavam em plena atividade. O caldo fervia. As tampas de metal
polido repinicavam. Um cheiro de cominho embalsamava o ar.
Depois, subiu pela larga escada de madeira que rangia a cada passo. Viu os quartos para os
senhores, onde as camas eram tão altas que eles necessitavam de escadinha para nelas subir. Preferiu hospedar-se no andar superior, destinado aos
viajantes da sua igualha, onde havia uma só cama, corrida, que ia de um lado a outro do salão. Os hóspedes descalçavam as botas e deitavam-se lado a
lado, completamente vestidos.
Descendo novamente à cozinha, resolveu fazer a refeição, a fim de ficar com a noite livre. Tomou
bojuda tigela de caldo, com a sua comprida folha de alho. Bebeu uma caneca de vinho, que lhe soube muito bem. E saiu tasquinhando uma maçã, que mais
o deliciava pelo perfume do que pelo sabor. Simpatizou logo com a cidade. Pareceu-lhe simples e gasalhosa. Conveio consigo mesmo em que a entrevista
deveria realizar-se sob bons auspícios. Jefferson, antes do mais, ficar-lhe-ia grato pelo inesperado passeio. Viajando de Paris para as águas
termais de Aix, a cinco léguas de Marselha, ao chegar a Avinhão, o embaixador pretextara desejo de conhecer as ruínas romanas, e se desviara para
Nimes. Fora feliz nessa resolução. O tempo mostrava-se favorável. O ar seco e tépido. O céu azul e limpo. A primavera engalanava a terra, o
plenilúnio alumiava a noite.
José Joaquim da Maia viu a lua cheia erguer-se por trás do Coliseu, aparecendo e desaparecendo
entre as arcadas superpostas. Tudo parecia prateado. As sombras oblíquas dos telhados recortavam as vielas estreitas. Vultos iam e vinham,
costurados às paredes. Alguns camponeses, de barrete quebrado de banda, traziam o forcado ao ombro; pareciam figuras diabólicas. Mas eram boa gente.
Quando o brasileiro se lhes dirigia, desbarretavam-se e davam informações.
Caminhou lentamente para o Coliseu. Parou nas entradas dos becos escuros, com arcos de pedra.
Atravessou diversos largos. Num deles, a Torre Magna, baixa, quadrada, com um ângulo em ruínas, alvejava à claridade da lua. Mais adiante, topou
igreja alta, com torres agudas, espetadas no céu. Demorou-se a contemplar a sua arquitetura impressionante. As gárgulas escancaravam bocarras
escuras, de colmilhos de pedra, numa ameaça inútil que datava da Idade Média. Meninas de compridas saias e meninos de pantalonas folgadas giravam na
roda e cantavam. Ficou-se a ouvi-los. E, assim, passeando para fazer tempo chegou ao local marcado para o encontro.

Imagem: reprodução parcial da pagina de 13/8/1944 com o
texto
O Coliseu de Nimes data do tempo de Augusto e é um dos maiores construídos pelos romanos.
Apresentava-se em ruínas. Apenas metade daquele monumento permanecia ereta. Media uns dez metros de altura. O anfiteatro subia em forma de degraus
até às muralhas exteriores. Na parte ainda conservada, duas ordens de arcos alinhavam-se contra o luar. Alguns estavam incompletos. Sobre os arcos
interrompidos, felpudos de gramíneas, abril tinha ressuscitado folhagens, cuja orla se esbranquiçava de flores. Um cheiro de anêmonas passava nas
aragens. Na outra parte, o circo se havia desmanchado em montões de pedras, ainda de ângulos retilíneos. Pouco restava das quatro portas, outrora
destinadas, respectivamente, aos dignitários, aos cavaleiros, aos plebeus e aos escravos.
Há mais de dois mil anos, o circo, nos dias de festa, comportava vinte e quatro mil espectadores;
naquela noite, só continha sombra, solidão e silêncio. Apenas montes de silhares lavrados em pedra calcária. O tempo parecia ter jogado aos dados
com aqueles cubos. A primavera havia improvisado um jardim. A arena estava toda coberta de relva; o visitante adivinhava-a pontilhada de corolas.
Arbustos emergiam dos interstícios das lájeas.
Deliciado com a noite e a paisagem, o estudante ficou a passear pelas ruínas. Aos seus pés, os
insetos fugiam, os pássaros alçavam voo, gritando como doidos. E iam pousar nos botaréus, equilibrando-se com dificuldade nos rebordos de terra
solta. Em certo ponto, estacou. Entre a folhagem, lobrigou figuras humanas. Um casal de jovens fugiu pela sombra, rindo-se perdidamente. Minutos
depois, entre os montões de escombros, pisou um ser vivo que grunhiu raivosamente. Devia ser um mendigo, pois uma sombra ergueu-se do chão e saiu
pela noite, cambaleando, às guinadas.
Não quis ter novos encontros e deixou as ruínas. Viu-se numa praça pobre, onde os casarões
alternavam com os terrenos vagos. Nas fachadas brilhavam luzes. Nos desvãos, pastavam bois e cabras. O luar branqueava os telhados, as cercas, os
caminhos.
Ainda estava nessa contemplação, quando ouviu um trote picado. Ao mesmo tempo, seis cavaleiros do
rei desembocaram na praça, com as lanças apoiadas no riste e as flâmulas agitadas nos topes. Depois deles, apareceu uma carruagem coberta, seguida
de duas menores. O préstito dirigiu-se à parte oposta às ruínas e estacou. Dos veículos menores desembarcaram seis ou sete homens de capa estreita
com abas à altura dos ombros, e chapéu alto, espalhando-se pelas vizinhanças. Alguns se dirigiram às ruínas e penetraram nas suas sombras. Um
instante após, abriu-se a portinhola da carruagem grande e um homem apeou. Era alto, aprumado, decidido. Caminhou na direção do Coliseu. O estudante
pensou:
— Lá vem Sua Excelência!
Quando o embaixador se aproximou, o rapaz tirou o chapéu e estendeu-lhe a mão:
— Wendeck.
— Tomas Jefferson.
Devia contar quarenta e três para quarenta e quatro anos. Ainda estava em pleno viço por ocasião
da Independência do seu país, tinha apenas 33 anos. Era, então, um homem de rara beleza masculina. Naquela noite, abril de 1787, diante do
universitário brasileiro que desejava uma audiência, ainda conservava a beleza e a elegância da mocidade. Vestia casaca de pano encorpado e escuro,
calções de seda clara, botas curtas, chapéu alto, meio afunilado e com abas reviradas. O vento agitava-lhe os bofes de renda. Tirando o chapéu, para
refrescar a fronte alta e pálida, o estudante viu que o embaixador americano trazia os cabelos arrepanhados para trás e amarrados, na altura da
nuca, por um laço de fita. Não estavam empoados. Ao luar, tinham o lustro de uma placa de ouro.
Tendo-se apresentado em poucas palavras, os dois homens caminharam lado a lado, entraram no
Coliseu e foram sentar-se no anfiteatro. Ali, como velhos conhecidos, iniciaram a conversa. Uns vultos de capa e bastão rondavam pelas vizinhanças,
demorando-se ora aqui, ora ali, como a contemplar as ruínas. O estudante notou-os:
— Aqueles homens...
Jefferson explicou:
— São amigos.
De quando em quando, um pássaro noturno assustava-se, batia pesadamente as asas e, soltando pios,
ia empoleirar-se nos arcos de pedra... Depois, ficava o silêncio, um silêncio carinhoso de primavera ao luar.
O diplomata foi direito ao assunto:
— Vejo que o senhor é muito jovem, mas isso me agrada. Quero, porém, adiantar-lhe, por ser
verdade, que não estou autorizado pelo meu governo a assumir compromissos nem a encorajar movimentos em parte alguma. Desejo que o senhor seja um
bom orador: quanto a mim, limitar-me-ei a ser um bom ouvinte. O que me for dito, eu, chegando a Marselha, comunicarei ao meu governo. É o que de
melhor poderei fazer em proveito de sua pátria.
José Joaquim da Maia aconchegou-se na capa e falou:
— Sinto-me indicado para falar-vos de minha pátria, pois visitei as principais cidades, percorri
as terras auríferas e diamantinas e conheço, por tê-los estudado, os nossos principais problemas. Antes do mais, devo dizer-vos que o Brasil conta o
mesmo número de habitantes que Portugal. São portugueses, brancos naturais do país, negros e pardos cativos, e índios selvagens ou civilizados. Os
portugueses, poucos em número, quase todos casados no Brasil, tendo perdido a lembrança do solo pátrio e o desejo de voltar a ele, estão por isso
dispostos a abraçar a independência. Os brancos naturais do país formam o corpo da nação. Os escravos são iguais em número aos homens livres. Os
índios domesticados são destituídos de energia, e os selvagens nenhum partido tomarão nesse assunto. Há vinte mil homens de tropas regulares. A
princípio, eram todos portugueses, mas, à proporção que morriam, foram sendo substituídos por naturais do país, de modo que os brasileiros compõem
hoje a maior força das tropas, e podemos contar com eles. Os oficiais são em parte portugueses, em parte brasileiros. Seu valor é indubitável;
conhecem as manobras, mas desconhecem a ciência da guerra e nenhuma predileção têm a favor de Portugal, nem manifestam algum sentimento forte por
outro qualquer objeto. Os clérigos são igualmente em parte portugueses, em parte brasileiros, e não parece que tomem grande interesse na contenda. A
nobreza é apenas conhecida como tal. Os chamados fidalgos não fazem questão de distinguir-se do povo. Os homens de letras são os que mais desejam a
revolução. O povo não é muito influenciado pelos padres. Numerosos indivíduos sabem ler e escrever: possuem armas e costumam servir-se delas para
caçar. Os escravos têm de seguir a causa dos senhores.
— Há no Brasil um forte espírito de separação?
— Pelo que respeita à revolução, não há mais do que um sentimento em todo o país — mas não
aparece uma pessoa capaz de dirigi-la, ou que se arrisque, pondo-se-lhe à frente, sem o auxílio de uma nação poderosa...
— Continue.
— …Os brasileiros consideram a revolução da América do Norte como precursora da que eles desejam:
é dos Estados Unidos que esperam todo o socorro. As melhores simpatias desenvolvem-se entre nós para convosco. O Rio de Janeiro, atualmente capital
da colônia, conta cinquenta mil habitantes. Conheço a antiga capital, São Salvador. Visitei, igualmente, as minas de ouro situadas no interior do
país. Todos esses lugares propendem para a revolução e, como constituem o corpo da Nação, poderão arrastar os outros consigo. O quinto que o rei
cobra do produto das minas anda por treze milhões de cruzados. Apenas o rei tem o direito de explorar as minas de diamantes e de outras pedras
preciosas, que lhe rendem quase metade dessa quantia. Somente o rendimento dessas duas fontes de riqueza deve montar a dez milhões de dólares, por
ano; mas o remanescente do produto das minas, que sobe a vinte e seis milhões de dólares anuais, pode ser aplicado nas despesas da revolução. Afora
as armas que andam pelas mãos do povo, há depósitos delas. Há muitos cavalos, mas só uma parte do Brasil permite o serviço de cavalaria.
Precisaremos de artilharia, munições, navios, marinheiros, soldados e oficiais; e para tudo isso estamos deliberados a recorrer à vossa Nação,
entendendo-se sempre que os fornecimentos e serviços serão necessariamente pagos.
— E Portugal?
— Portugal não dispõe de esquadra nem de exército; portanto, não poderá invadir o Brasil, antes
de um ano. Tal invasão seria para a metrópole mais para temer porque, a falhar a primeira, não seria possível intentar segunda, pois, cortada a
principal fonte de sua riqueza, apenas conseguiria um pequeno esforço; ao mesmo tempo, se a Espanha invadisse o país pela parte do Sul, ficaria
sempre tão distante do corpo dos estabelecimentos que não chegaria até eles e, portanto, a intromissão da Espanha nesse negócio não será para
recear-se. As minas de ouro estão entre montanhas inacessíveis aos exércitos e o Rio de Janeiro é o porto mais seguro do mundo, depois de Gibraltar.
No caso de termos de sustentar grandes forças, estamos providos de muito gado. Em algumas regiões, abatem-se reses unicamente para aproveitar-se o
couro. A pesca da baleia é exclusivamente feita pelos naturais, mas em embarcações pequenas, de modo que não sabem manobrar as de grandes dimensões.
O Brasil importa de Portugal farinha de trigo e peixe salgado; passaria, depois da independência, a comprá-los nos Estados Unidos, que também lhe
venderiam os navios necessários à guerra e ao comércio. A farinha de trigo, na colônia, é vendida ao preço de vinte libras cada cem arráteis. E,
para terminar, quero dizer-vos que a parte mais ilustrada da colônia tem por infalível a independência. Sobre essa revolução não há mais do que um
pensamento em todo o país, e, no caso de ela ser bem sucedida, será organizado um governo republicano, o qual se generalizará por todas as
províncias.
— Como lhe antecipei, não tenho autorização do meu país para aceitar propostas, nem tampouco
fazê-las. No entanto, como simples cidadão, vou comunicar as suas palavras ao meu governo. Não acredito, porém, que estejamos em condições de
comprometer a nação em uma guerra com Portugal, cuja amizade desejamos cultivar, tanto assim que, ainda há pouco, celebramos vantajoso acordo
comercial entre os dois países. Nosso apoio, no entanto, poderá ser de outra forma. A esperança de consideráveis vantagens chamará ao Brasil
numerosos indivíduos em seu auxílio e, por motivos mais nobres, serão atraídos os nossos oficiais, em cujo número há muitos excelentes. Nossos
concidadãos, podendo sair da pátria quando querem, sem licença do governo, podem da mesma sorte dirigir-se a qualquer país.
Por entre as pedras altas, passou um vulto. Tomas Jefferson fez-lhe sinal. O vulto aproximou-se.
— Chame o carro.
Dali a momentos, a carruagem deslizou pela noite, ao trote das duas parelhas, e veio estacar
diante da porta magna do Coliseu. O embaixador e o estudante caminharam lentamente para ela, trocando palavras sem importância. Quando Jefferson pôs
o pé no estribo, ainda lhe estendeu a mão enluvada, que o rapaz apertou comovidamente. Outro sinal do embaixador e os cavaleiros do rei partiram à
frente, depois a carruagem; no coice os dois carros que a escoltavam, conduzindo auxiliares. E José Joaquim da Maia ficou de pé, sob um arco do
Coliseu, por onde entrava o luar, um luar pálido e remoto que mais falava da eternidade que das pequeninas questões dos homens.
Voltou à estalagem à l'enseigne da Lebre de Ouro. Na manhã seguinte, tomou a diligência
para Montpellier. Mas não voltou à Universidade.
Assim que pôde, abandonou os estudos e regressou a Portugal. Lá chegando, imiscuiu-se entre os
estudantes brasileiros, fazendo propaganda da independência da pátria. Suas palavras não caíram em chão ingrato. Dentro de pouco, o ambiente era de
tal maneira favorável aos patriotas brasileiros que despertou temor em muita gente. Chegou a transpor as muralhas medievais do claustro de Santa
Clara, em Coimbra. A madre Joana de Menezes Valadares mostrou temor pela sorte de seus parentes que se encontravam na colônia. Em 18 de julho de
1787, escrevia ela ao primo Joaquim Pedro de Sousa Câmara, moço fidalgo da Casa Real e sargento-mor dos auxiliares da comarca do Rio das Mortes,
pedindo-lhe que se retirasse, quanto antes, para o Reino.
"Vossa senhoria que aí está bem, aqui ficará melhor; e suponhamos que se introduz o espírito de
vertigem nos ânimos desses naturais, e que tumultuam; nesse caso, parece que mais arriscado seria o partido da honra, que vossa senhoria
infalivelmente havia de seguir; e o melhor é evitar estes apertos e vir com eles à presença da soberana e livrar-se de um governo subalterno, que às
vezes degenera em despotismo".
Essa carta veio a figurar na devassa. O sargento-mor viu-se em dificuldade para explicar aos
questores o sentido das palavras da prima de Coimbra...
José Joaquim da Maia, anos depois, sentindo-se morrer, quis voltar ao Rio de Janeiro, sua terra
natal. Doíam-lhe saudades do pai, o velho pedreiro da Lapa, do casebre em que nascera, das paisagens familiares da infância. Mas a enfermidade, que
já ia muito avançada, reteve-o no leito. Em parte, para seu bem. Qual seria a sua sorte se, tendo embarcado para o Brasil, estivesse ao tempo em que
se procederam às devassas? Seu nome e sua atividade em prol da emancipação da colônia foram apontados em diversos depoimentos. O visconde de
Barbacena ligou tamanha importância ao estudante de Montpellier que, em 30 de junho de 1788, de própria mão, escreveu ao ouvidor da comarca de Vila
Rica, como juiz devassante:
"Por ser digno de maior e mais particular averiguação o fato em que tocou o coronel Francisco
Antônio de Oliveira Lopes, em suas últimas respostas, referindo-se ao dr. Domingos Vidal Barbosa acerca de uma carta escrita ao ministro dos Estados
Unidos da América Setentrional, por um estudante do Brasil que se achava em Montpellier, ordeno a v.m. que me informe sumariamente dele, inquirindo
novamente o coronel, o dito Domingos Vidal e as mais pessoas que se referiram nos seus depoimentos, com o mesmo escrivão que tenho nomeado para as
diligências desta natureza etc."
A 25 de janeiro de 1791, o desembargador José Pedro Machado Torres determinava que o ouvidor,
escrivão Marcelino Pereira Cleto, respondesse, para maior clareza e inteligência, entre outras perguntas, à seguinte: "Por que causa se não
'segurou' e perguntou a José Joaquim da Maia, filho de um pedreiro desta cidade, referida pela testemunha n.° 20, (Domingos Vidal Barbosa)?" E o
escrivão respondeu "que se não perguntou a José Joaquim da Maia, por estar ausente e constar ser falecido, e que seu pai era falecido e que 'por
isso' não se perguntava também".
Foram, no entanto, reinquiridas as seguintes testemunhas: coronel Francisco Antônio de Oliveira
Lopes, Domingos Vidal Barbosa, cônego Luís Vieira, sargento-mor Luís Vaz, tenente-coronel Domingos de Abreu, padre Francisco Vidal Barbosa, que
repetiu o que ouvira do irmão, e o bacharel José Pereira Ribeiro. Este último, que o leitor já conhece, foi apanhado com dois livros que o amigo lhe
havia dado em Montpellier, como lembrança. Para felicidade sua, não tinham nenhuma dedicatória.
Interrogado sobre quem era aquele José Joaquim da Maia, contestou:
— Não sei de quem estão falando. Não o conheço.
Depois, reperguntado sobre se tinha ouvido alguma coisa a propósito da correspondência entre o
estudante e o embaixador americano, declarou:
— Nada ouvi, nada sei.
O ouvidor Marcelino Pereira Cleto, durante o interrogatório, caminhava de um lado para outro. De
quando em quando, estacava no meio da sala, abria a caixinha de rapé, levava demoradamente a pitada às narinas e, depois, punha-se a caçar, nos
bolsos traseiros da rabona, um grande lenço de ramagens... Conseguido o espirro, determinava:
— Senhor escrivão, tome por termo as palavras do depoente!
Ouvindo a ordem, César Manitti afocinhava na mesa. A pena de pato rangia sinistramente sobre as
quartilhas de papel. E o escrivão gatafunhava, gatafunhava, gatafunhava...