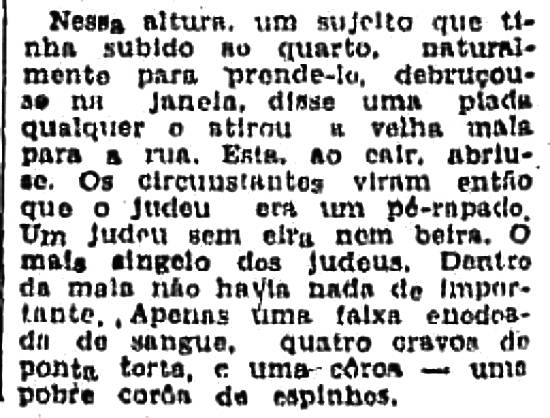A cidade era velha, pequena e triste. Um rio coalhado de embarcações cortava-a pelo meio. Pontes de ferro erguiam-se para dar
passagem aos vapores; depois, abaixavam-se novamente, a fim de atender ao movimento urbano de veículos e pedestres. O casario apresentava paredes
esverdeadas pela pátina do tempo, e telhados escuros, de duas águas, com locarnas de trapeiras. Quase todos os prédios tinham balcões sobre a rua
mal empedrada. E pelas esquinas, debaixo do toldo listado das lojas, viam-se grupos de homens vestidos de veludo e mulheres de botas pelo meio da
canela, e grandes toucas de linho que de tão alvas pareciam luminosas.
A Universidade acrescentava muita importância à cidadezinha provinciana. Ficava numa praça sombreada de álamos. Compunha-se de
numerosos edifícios a que o tempo havia dado uma coloração castanha. Contava milhares de alunos. moços e moças. No meio dessa gente ruidosa,
passavam os mestres, empertigados, de óculos de aro de ouro e barbicha branca. Quase todos gozavam de renome no país e no estrangeiro, pelos
estudos, pelos trabalhos em prol da ciência.
Vinham jovens do Norte e do Sul da Europa com o intuito de frequentar a Universidade. Os estrangeiros chegavam ainda bisonhos,
mas logo se identificavam com aquela vida. Bebiam, namoravam, batiam-se em duelo nas cervejarias de fora de portas. Alguns, mandavam escarificar o
rosto, para assim, cheios de lanhos e cicatrizes, apresentarem aspecto mais rijo e belicoso. Moravam em modestos quartos, nas ruas que desembocavam
no rio e, todas as manhãs, tomavam o caminho das respectivas faculdades. Eram alegres e bons. Nas reuniões noturnas, bebiam em altos copos de
porcelana e cantavam em coro canções de amor. Mas passavam boa parte do dia nos estudos, ora nos salões de aula, ora nos laboratórios, empenhados em
exaustivas experiências.
No fim do ano, partiam para outra terras, levando consigo a maravilha do que haviam aprendido. No começo de cada ano letivo, as
ruas eram invadidas por moços de outras cidades do país e, também, por jovens procedentes do estrangeiro. Um árabe punha na praça a mancha branca,
esvoaçante, do albornoz. um turco, a pincelada escarlate do fez. Um hindu a nota característica da casaca de ramagens e do turbante de seda preso
por uma esmeralda.
E, entre os recém-chegados, alguns judeus. É verdade que, nos últimos tempos, o ambiente se ia tornando cada vez mais carregado
de antipatias por esses rapazes graves e estudiosos, que, não raro, procediam de países exóticos. Há vinte anos, época em que se deu este episódio,
eles passaram a ser recebidos com hostilidade aberta por alguns colegas, principalmente pelos que usavam no peito uma cruz de braços partidos.
Como consequência do mau acolhimento, os estudantes judeus foram rareando. Mas o último deixou o que contar. Chegara da
Palestina e parecia alheio às lutas dos homens dos homens. Era de estatura meã, cabelos pretos e longos, barba escassa terminando em duas pontas. A
dez léguas de distância via-se o "sefardim". Trazia consigo, apenas, uma velha mala de viagem. Alojou-se em modesta hospedaria do porto, entregou os
papéis na Universidade e ficou à espera da abertura das aulas.
Era calado e triste. Mas na convivência da pensão travou conhecimento com outros hóspedes. Seu temperamento era excessivamente
delicado. Daí a fama de esquisitão que granjeou desde logo. Alguns deles debicavam das suas atitudes. No entanto, vão lá saber por que, gostavam de
experimentá-lo. Uma noite, tanto insistiram que o levaram a um circo de cavalinhos, a fim de mostrar-lhe os animais amestrados que, naquele momento,
faziam o gozo e a alegria do bairro. Foi. Mas não se divertiu. Ao contrário. Enquanto os números se sucediam, ele, que parecia conhecer muitas
coisas, ia revelando os truques usados pelos domadores e amestradores. Talvez tivesse lido uma reportagem sobre a matéria, feita pelo escritor Paul
Reboux.
Condoeu-se desde logo da sorte daqueles bichos, caçados em plena selva, onde viviam em liberdade, e que ali estavam metidos em
jaulas, num horroroso regime celular, eles que jamais haviam praticado crimes. E, nessas jaulas, eram torturados para divertir os espectadores.
Aqueles homens, para fazerem rugir as feras, batiam-lhes na parte mais sensível do corpo, que é o focinho. Os rugidos que
divertiam a arquibancada não eram mais do que uivos de dor. De uma dor impotente, porque ali perto estavam as lanças e os espetos em brasa, a fim de
reprimir a mais leve reação dos animais.
O moço contou aos companheiros que onças, tigres e leões, durante as tournées do circo, são encerrados em caixas de exíguas
dimensões, dentro das quais os infelizes mal podem mexer-se; e ali permanecem dias, semanas, incapacitados de levantar-se, submetidos portanto a uma
tortura que seria desumana, mesmo aplicada aos piores criminosos do mundo.
As chamadas "sereias" que tanto divertem o público não são mais do que infelizes focas conservadas dentro de uma banheira cheia
de água infecta; o que se apresenta a centenas de espectadores não é uma maravilha da natureza, mas a prolongada e inenarrável agonia de uma foca. O
cachorro que dá perigoso salto, realiza um exercício que foi imposto a muitos outros, antes dele, mas que, menos hábeis, caíram sobre o picadeiro,
com a coluna vertebral partida. O cavalo que vira a cabeça para apoiar o focinho na casa do amestrador, sentiu um espinho cravado no vazio da
espádua. Foi o espinho, perfurando-lhe dolorosamente um músculo, que lhe impôs esse "beijo", que tantos aplausos recebe.
O elefante que caminha sobre três patas, com um ar muito cômico, assim procede porque na quarta pata foi-lhe cravado,
dissimuladamente, um espinho. Os pombos que permanecem pousados no cano de uma espingarda, mesmo depois de disparado o tiro, são surdos; seu
aparelho auditivo foi destruído por um processo que repugna contar.
Quando um macaco "canta" no picadeiro, não canta, chora... Não faz mais do que soltar gemidos à sua moda, pois o amestrador,
que o seguia como amigo, está, sem que se perceba, torcendo cruelmente as suas mãozinhas negras... Um macaco, para vestir-se "de gente" como, às
vezes, aparecem pelos circos, reage com heroísmo. O bicho sente-se humilhado, degradado. O domador consegue vesti-lo a poder de chicotadas.
E quando um urso se põe a dançar é porque o exibidor puxa pela corrente. Ora, nem todos sabem que aquela corrente termina numa
argola que fura e atravessa as cartilagens do focinho da fera. A cada puxão, o urso sente uma dor horrível e se esforça por acompanhar os gestos do
dono...
O calouro foi explicando tudo aquilo. Em certo ponto, porém, ergueu-se, e, voltando-se para os companheiros, exclamou:
- Para divertir aos homens será preciso impor tantas torturas aos animais?
E saiu quase a correr daquele recinto cheio de luzes, de gritos e de risadas. Os companheiros acharam graça na sua atitude.
Entre eles, no entanto, alguns o compreenderam. E o acompanharam silenciosamente, um pouco envergonhados.
Passaram-se os dias. Iniciaram-se os cursos na Universidade. As primeiras aulas foram divertidas. Os estudantes, reunidos em
grupos, escarneciam dos calouros; andavam pelas salas de conferências, bibliotecas, laboratórios, com ares trocistas. Mas aquilo não se levava a
mal, era uma praxe que vinha de longe. Nos dias seguintes deveriam acomodar-se, dedicar-se aos estudos, mergulhar nos mundos misteriosos da ciência
e da filosofia.
Lá estava também o oriental. Entre muitos, ele deveria receber maior quinhão de motejos, um pouco porque tinha barba nazarena,
outro pouco porque as suas esquisitices já eram comentadas.
Logo no primeiro dia levaram-no, arrastaram-no aos laboratórios onde se praticava a vivisseção. Era naquelas amplas salas de
iluminação perfeita, ricas de misteriosos aparelhos, que alguns professores realizavam experiências em animais vivos. Tudo aquilo, afirmava-se, era
muito útil para a humanidade. Graças àqueles trabalhos, graças ao sacrifício de milhões de seres, a ciência deveria crescer em benefícios para todos
nós.
Alguns, porém, eram de parecer que a sua contribuição ainda não correspondia ao muito que desse processo se esperava. Em 1876,
Claude Bernard, o pai da vivisseção, acreditava cegamente na sua arte. "Nossas mãos hoje ainda estão vazias, mas nossas bocas podem estar cheias de
legítimas promessas para o futuro". Tais promessas, no entanto, custaram a ser realizadas. Em 1912, os professores Lichy e Laurent, numa delicada
alusão à frase do mestre, escreviam: "As mãos dos vivissecionistas continuam vazias..." e, ao que parece, continuarão por muito tempo.
Mas o diacho do calouro não quis assistir àquelas experiências in corpore vile. Parece que tinha lido o folheto de
monsenhor Bolé, de Marselha, um luminar do clero católico que, por aquela época, se havia colocado à frente de uma campanha contra as experiências
científicas levadas a efeito em animais vivos.
Apesar dos protestos do rapaz, conduziram-no a uma sala onde o sujet era um cachorro. Ao ver aquela cena desumana, levou
a mão aos olhos, mas conseguiu vencer o horror que lhe causava e depois começou a dizer:
- O cão distingue entre o bem e o mal. Tem como nós a ideia da morte. Ali como o vejo, garroteado sobre a mesa, ele sabe muito
bem que o matam. Assiste à própria agonia, perguntando, no fundo de sua consciência, quando essa agonia acabará e o motivo por que o torturam
assim...
Sem lhe dar ouvidos, os homens que estavam à sua frente puseram-se a destampar a cabeça do animal vivo. Quando a calota foi
levantada, tomaram de pinças em brasa e começaram a picar-lhe a massa do cérebro, a fim de observar o grau de sensibilidade.
Na sala contígua, tinham raspado o pelo de um cachorro e, depois de cobri-lo de verniz, assistiam à sua morte, por falta de
transpiração.
Na terceira sala, haviam molhado um cachorro em gasolina e, depois, atearam fogo. O animal transformou-se numa bola ígnea. E,
como não morresse de todo, foi conservado, para saber-se o tempo que podia durar com vida, naquele estado. Não raro, essas agonias duravam semanas.
O calouro, diante de tais cenas, chorava silenciosamente. Mas a sua tristeza chegou ao auge quando entrou na quarta sala. Ali,
um cachorro que já tinha sofrido duas vezes a tortura, foi trazido para nova experiência. Coberto de chagas, com o couro em retalhos vermelhos, mal
pôde caminhar. os membros estavam bambos e o corpo era sacudido por arrepios de medo. Houve quem risse, quem achasse graça no seu desengonçado
andar.
O diretor do laboratório mostrou-lhe um torrão de açúcar. O animal pareceu compreender que se tratava de receber uma graça em
troca daquilo e fez um esforço imenso para obedecer à ordem que lhe davam, mas as forças não correspondiam à coragem e o pobre caiu extenuado.
Então, o chefe repetiu a cena, com o torrão de açúcar na ponta dos dedos, a excitar o animal, que fazia desesperados esforços físicos para alcançar
o que lhe mostravam, atrás do que deveria estar alguma graça, mesmo que fosse a morte.
Foram minutos de angústia. E o pobre, entrevendo o fim do seu suplício, agitou-se, ergueu-se e se pôs a lamber aquela mão que o
havia retalhado, desfigurado, transformado numa bola sangrenta. Julgou-se salvo... Mas o cientista piscou um olho malicioso e os contínuos amarraram
novamente o cão à mesa, para novas experiências.
O calouro, pálido e confuso, pôs-se a gritar a opinião de ouros cientistas:
- Segundo o dr. Catois, a vivisseção é desmoralizadora; ela não foi feita para auxiliar a humanidade, mas para a desservir.
Segundo o dr. Weill, a vivisseção, tal como ela é compreendida em nossos dias, é um crime. Segundo o dr. Mauny, fazer sorer os animais, sem que isso
seja absolutamente necessário e indispensável, é indigno de um homem de coração. Os vivissecionistas bem merecem a pena de Talião.
O rapaz, com certeza, tinha perdido o juízo.
Os poucos companheiros que se conservaram a seu lado arrastaram-no para fora do laboratório. Desceram escadas de mármore.
Atravessaram corredores brancos, iluminados por um sol artificial, e chegaram a um pátio. Nesse recinto, havia árvores. Nas copas cantavam os
passarinhos. Tudo tão suave. O mundo tão belo. A vida tão boa. Repousou alguns minutos.
Quando a dolorosa impressão se desvaneceu, pôs-se a passear de um lado para outro. Nesse passeio encontrou uma bola vermelha e
informe, mas que parecia dotada de vida. Que seria aquilo? Era uma égua, de olhos vazados, sem cascos, despida do próprio couro, que se esforçava
por levantar-se. um servente fustigou-a e ela tentou firmar-se na ponta dos ossos ensanguentados...
Foi nessa altura que o rapaz, segundo contam as crônicas, enlouqueceu e se pôs a gritar a frase do professor Leclerc:
- Abaixo as crueldades inúteis! Os animais não são brinquedos!
Conduziram-no ao quarto, onde ele se fechou por dentro. O seu protesto teve repercussão. Uma repercussão que, segundo parece,
foi mais além do que se imaginava. Logo depois tomaram-se providências destinadas a tornar a vivisseção mais humana, ou menos desumana.
A Inglaterra foi o primeiro país que estabeleceu a fiscalização de tais experiências. Apenas 80 laboratórios podem realizar
estudos cirúrgicos sobre animais vivos. E os professores que tinham licença para isso não passavam de 428. Mas a Inglaterra, em comparação com
outros países, é o paraíso dos animais.
Por outro lado, no mundo inteiro, estabeleceu-se que tais experiências sejam feitas em animais devidamente anestesiados. Nas
universidades modernas é assim que se procede. Os animais são submetidos a experiências sob a ação do clorofórmio, como seres humanos, e os
operadores utilizam o mesmo aparelhamento cirúrgico que empregariam para operação em um semelhante. Já é muito. É o mais que se possa desejar.
Mas...
Mas voltemos a esta história. Segundo li algures, numa entrevista, o calouro ainda é citado pelos habitantes da velha
cidadezinha universitária, dos confins da Europa. Conta-se que ele, recolhido ao quarto, passou horas sem dar sinal de si. Já muito tarde, foi
despertado por gritos que vinham da rua. Foi à janela e espiou. Eram homens de camisa parda que o ameaçavam.
- Abaixo o intrujão!
- Quem é esse vilão inimigo da ciência?
- Morte ao judeu!
Começou a juntar gente.
Ele saiu do quarto, desceu a escada, atravessou por entre a chusma e dirigiu-se para os lados do porto.
Ninguém se atreveu a embargar-lhe o passo.
Apenas um homem ousou perguntar-lhe:
- Onde vais?
Ao que ele teria respondido:
- Volto à Palestina; vou recomeçar a pregação de amor que ainda não foi ouvida...
Os homens se entreolharam sem compreender.
Nessa altura, um sujeito que tinha subido ao quarto, naturalmente para prendê-lo, debruçou-se na janela, disse uma piada
qualquer e atirou a velha mala para a rua. Esta, ao cair, abriu-se. Os circunstantes viram então que o judeu era um pé-rapado. Um judeu sem eira nem
beira. O mais singelo dos judeus. Dentro da mala não havia nada de importante. Apenas uma faixa enodoada de sangue, quatro cravos de ponta torta, e
uma coroa - uma pobre coroa de espinhos.