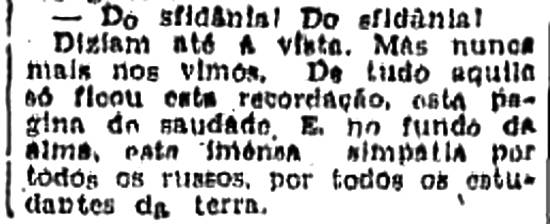|

Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria
Velhos amigos
No próximo sábado, o público de São Paulo se reunirá no estádio do Pacaembu para tomar parte na grande festa em prol da Cruz Vermelha Russa. Dá
gosto ver a satisfação com que nossos patrícios se associam a tão formosa iniciativa. Sinto-me feliz com isso. Pertenço ao número daqueles que não se deixaram influenciar pela obra nazista que, de todas as formas, até mesmo as mais sutis, procurou
diminuir em nossa estima um grande povo tradicionalmente amigo. É que eu, porque muito tenho andado e vivido, fui levado a conhecer de mais perto a alma dos russos, tão sentimental e generosa que, lá na Europa, me fez lembrar a alma da minha gente,
de que tanto andava saudoso.
Tenho contado algumas vezes como eu, ainda menino, pude admirar as delicadezas do coração russo. Vou repetir agora. Ali por 1907, atacado de delírio literário, tomei um vapor de carga e, ao cabo de 28 dias de viagem, fui dar
com os ossos em Lisboa. Meses decorridos, com o primeiro cobre que me chegou às mãos, tomei um trem para a França, trem vagaroso e triste que mais parecia marcha fúnebre. Durante a viagem, de 96 horas, misturei os dias com as noites.
Vi a Espanha de fugida, como se estivesse percorrendo o mapa com a ponta do dedo. Medina del Campo (N.E.: município na
província espanhola de Valladolid, comunidade autônoma de Castela e Leão), por exemplo, para mim não passa de uma estação, de uma sala imensa
com bancos, onde a gente cochilava até a chegada do trem de Irun (N. E. município do País Basco, na província de Guipúscoa, fronteira
Espanha/França). Alta madrugada, acordei com uns vivas. Era Santos Dumont que, segundo me informaram passava para Madri. Vi Salamanca, do mesmo modo. Era uma avenida iluminada que saía
da estação e se perdia na noite. Fazia muito frio. Olhei a plataforma e não encontrei o "Bacharel de Salamanca": com certeza estava dormindo numa daquelas pitorescas hospedarias, descritas por Lesage.
Vi extensas montanhas cor de ferrugem. E moinhos. E chãos quadriculados, como gibão de Arlequim, onde alternavam todos os verdes, de todos os cereais conhecidos. Vi... Mas acabei por não saber mais o que estava vendo. Dormi.
Acordei. Tornei a dormir. E numa hora qualquer, um sujeito de boné me acordou para perguntar, já em francês:
- Aonde vai você?
- A Paris.
O homenzinho mostrou todos os dentes. Por pouco o cachimbo não lhe caiu da boca. É que o trem já havia chegado ao destino: eu estava em Paris, na estação de Orleans. Saltei para a plataforma, com a roupa embrulhada no Mundo.
Alcancei a rua. Amanhecia. A cidade ressonava envolta na bruma. Diante de mim, entre muralhas baixas, corria o Sena. Para lá do rio, toldados pela névoa matutina, lobriguei os palácios baixos e escuros das Tulherias. Uma bandeira encharcada
escorria na fachada do Louvre. Carros de praça, cocheiros de cartolas brancas, carregadores com uma armação de madeira às costas, à espera de frete. Nada mais.

Paris nos tempos de Schmidt: esquina da Rue du Bac com Boulevard St-German, em foto sobre vidro recuperada pelo processo Autochrome dos irmãos Lumière, feita em 20 de julho de 1914
Foto: Auguste Léon, preservada no Museu Albert-Kahn, de Paris, em apresentação tipo Powerpoint enviada a Novo Milênio por
Jean Ange Luciano, da França, em 17/8/2013
Paris, para uma pessoa que chegava como eu, sem eira nem beira, era uma cidade pouco tentadora. Enfim, tomei o cais Malaquais e fui andando pelo bairro adormecido; à escassa claridade
daquela hora, ia soletrando as placas das esquinas: Rue du Bac, Rue des Saints-Pères, Rue des Beaux Arts... Estava numa cidade conhecida. Mas conhecida de que maneira? Conhecida através das mil novelas parisienses que eu havia devorado na
juventude.
Hospedei-me numa casa de cômodos, que tinha o bonito nome de Grand Hotel d'Isly, na esquina da Rue Jacob com a Rue Bonaparte. Fazia as refeições ali perto, num restaurante de quatro mesas. Só no mês seguinte chegou aquilo que
deveria ser mas não foi a primeira mesada: um cheque do Banco União do Comércio, para ser recebido no Crédit Lyonnais. Surgiu, porém, uma pequena dificuldade: o Banco União do Comércio, que deveria fechar as portas logo depois, já não mantinha
transações financeiras com o Crédit Lyonnais. Venha amanhã. Venha daqui a vinte dias. Estamos esperando cartas do Rio de Janeiro.
E os dias foram se enfileirando angustiosamente. Só tinha um amigo: o Jean. Esse Jean era o garçom do pequeno restaurante. Trabalhava de dia e estudava de noite. Sempre o julguei marselhês ou crioulo das Antilhas. Era pequeno,
magro, tisnado, com cabelos pretos e olhos verdes ligeiramente oblíquos. Devia ter o hábito da bebida. Andava sempre com ar distraído e cheirava a mosto. Quando lhe falei pela primeira vez em Brasil, o rapaz arregalou os olhos claros, de uva
moscatel. E todo se maravilhou.
Nos meses seguintes, recebi outros cheques. Mas para quê? E o pior é que não dispunha de meios para comunicar-me com a família, a fim de aconselhá-la a escolher outro banco, menos complicado, para as suas transações. Um drama.
Dentro de pouco tempo, eu deveria conhecer bem Paris. Muito melhor que o comum dos viajantes. A escassez de recursos me havia desviado da trilha que o comércio organizado prepara, antecipadamente, para receber os turistas.
Estes desembarcavam na estação e eram levados para o hotel, de acordo com as suas posses. Do hotel, para o teatro. Do teatro para os cafés-concertos. À tarde, passeavam de carruagem pelo Bois de Boulogne. Uma vez por semana, Longchamps. Entre um
passeio e outro, visita com cicerones aos museus do Louvre, Louxembourg e Cluny. Ao Domo dos Inválidos etc. E giros pelos grandes boulevards.
Comigo - ai de mim! - não se deu a mesma coisa. Ao desembarcar, caí no grand Paris. Mal tive hotel para os primeiros tempos. Não fui ao teatro, ao café-concerto, aos estabelecimentos onde se pagava para entrar. Não tive
nada disso. Fiquei-me a trocar as pernas pela beira do rio, a ler alfarrábios no cais Malaquais, a fumar compridas cachimbadas nos bancos do Louxembourg. Certa vez, um companheiro de banco tirou um embrulho de tabaco do bolso e me ofereceu
gentilmente.
- É bom? - perguntei.
- Deve ser ótimo: juntei-o na escadaria da Ópera...
Paris não se apercebeu da minha presença... Por isso, dentro de algum tempo, eu já arremedava com certo brilho o argot das "Fortifs". Arranhava a linguagem imaginosa dos pequenos cafés do Boul. Mich. "Café Biard, dix
centimes la tasse". Ou tinha estudadas preferências entre os cubos de alimentos concentrados Liebig, entre os modestos bouillons (N. E.: francês: caldos) da Rue de la Boule. Morava por esse tempo - a expressão é um tanto exagerada - no Quartier des Écoles.
Durante o inverno conheci todas as esquinas onde a prefeitura acendia panelas de alcatrão para delícia dos pobres. E a residência do sr. conde de Araguaia, no
boulevard de Haussemann. E a firma Braga & Gross, na Rue d'Auteville. E a famosa canjica das irmãs peruanas, umas boas senhoras que se interessavam pela sorte dos patrícios necessitados. Duas vezes por semana, eu representava de peruano. Tive
de ir à Biblioteca e enfronhar-me na geografia e na vida política da formosa República. Aquilo dava um trabalho...

Paris nos tempos de Schmidt: Rue de Bièvre, em 29 de junho de 1914, em foto sobre vidro recuperada pelo processo Autochrome dos irmãos Lumière
Foto: Stéphane Passet, preservada no Museu Albert-Kahn, de Paris, em apresentação tipo Powerpoint enviada a Novo Milênio por
Jean Ange Luciano, da França, em 17/8/2013
Apesar disso, as coisas iam de mal a pior.
Uma noite em que parecia ter chovido açúcar branco sobre Paris, eu seguia pela Ponte Nova a arrastar os pés, endurecidos pelo frio. Do outro lado da ponte, um sujeito se
pôs a chamar-me pelo nome. Seria possível? Lá vinha o Jean, com dois livros debaixo do braço. O diacho do rapaz, depois da aula, deveria ter corrido os retalhistas de vinho da rive gauche (N.E.: francês - margem esquerda do rio Sena). Estava, visivelmente, com um grãozinho a mais na asa.
- Já recebeu o dinheiro?
- Ainda não.
- Como vive?
- Estou morrendo, com uma certa largueza...
Ele ficou impressionado, talvez mais do que eu. Depois lembrou-se de qualquer coisa.
- Você bem pode ser russo.
- Mas não sou.
- Pois eu sou.
Ora essa! Quem diria? Tê-lo-ia imaginado marroquino ou dominicano, tudo que quisessem, menos russo.
- Mas, meu caro Jean, precisarei ser russo para alguma coisa?
- Precisa.
Ora, eu já havia sido peruano com uma certa eficiência, por que motivo não havia de ser russo?
Cheio de bondade, levou-me a um café, onde retemperei as forças. A seguir, tomamos a Rue du Louvre, chegamos ao velho Paris do Palais Royal e ali, num dédalo de ruas que
me pareceram do tempo de Catarina de Médicis, tomamos a mais modesta de todas. Parece-me que a Rue de l'Arbre Sèc. O nome não vem ao caso. Era constituída de sobradinhos de dois andares, com óculos de trapeiras a espiarem pelo teto de ardósia
negra. Em baixo, estavam instaladas pequenas lojas: retalhistas de vinhos, cubículos de carvoeiros, armazéns de bonés de couro e de alpercatas.
Entramos num daqueles imóveis. A porta estava aberta. No alojamento do porteiro, não havia viv'alma. Segundo Jean me contou, aquele prédio tinha sido alugado por não se
sabe quem, mas os poetas nas minhas condições encontravam ali pouso seguro. Mais tarde, vim a saber que os seus inquilinos eram exilados russos de 1905. A Europa estava cheia deles. Ali viviam, trabalhavam e estudavam. Entrando, ele saudou o
primeiro que encontrou no caminho:
- Dobre vétchia!
A pessoa corespondeu ao seu cumprimento:
- Pajausta!
Era assim como se dissesse: à vontade, faça o favor... A gente entrava, acomodava-se onde podia e ninguém indagava da procedência, nem do passado. O essencial era não
importunar aos demais. Em troca, ninguém incomodava o intruso. Morei ali, no fundo de um corredor, durante meses. Era uma espécie de popotte.
De manhã, o Griska, um rapazinho ruivo, cheio de sardas, passava por todos os compartimentos com o seu saquitel azul, fazendo a coleta para a sopa coletiva, o bosch,
uma 0sopa quente, saborosa, perfumada. Quando eu tinha uma moeda, o que não era muito frequente, nem dava para criar praxe naquela bendita mansão, atirava-a no saquitel. O rapaz murmurava spassivo, como a dizer obrigado, e prosseguia no
caminho. Quando eu não entrava com coisa alguma para o "bolo", ele sorria. Eu também sorria. Tenho a impressão de que aquele adorável Griska se tornava ainda mais amável quando eu não lhe dava coisa alguma. É que naquela família ninguém brigava.
Todos eram amáveis e se entendiam.
O ambiente encantador. Lá por cima, de manhã à noite, havia gente estudando violino, solfejando. Não raro, uma voz áspera de mulher velha ensinava bailados, dando ordens
como se estivesse diante de um pelotão. E as sandálias, simultaneamente, batiam sobre o assoalho, ensaiando passos de ballet.
De quando em quando, um vento de abundância animava o sobrado, quase nu de móveis. Era quando um cavalheiro bem posto descia do carro e ia parlamentar com os rapazes. Não
sei o que diziam. Também nunca procurei saber. Mas o fato é que quando o homenzinho se retirava, o lépido Griska andava pela casa a sacudir algumas moedas na palma da mão: Rádesti! Rádesti! Esse era o seu grito de alegria e de felicidade.
Não raro, alta noite, parava um carro à porta e mulheres vestidas como princesas entravam pela casa a dentro, enchendo de risadas e perfumes os velhos corredores. Eram artistas que, terminado o espetáculo, vinham visitar os patrícios. Não raro,
traziam flores, garrafas de Bordeaux, barras de chocolate, jornais recebidos da pátria distante. E, com o decorrer do tempo, fui entrando na intimidade daquela gente.
As moças moravam lá em cima, no gronisr, e gozavam de certos privilégios. Dormiam em camas, comiam em pratos, bebiam em copos. Quase todas eram estudantes.
Os rapazes também. Apesar disso, trabalhavam em qualquer coisa. O Griska, aluno do Conservatório de São Petersburgo, tocava piano, das 2 às 6 horas, numa casa de músicas do Boulevard des Capucines. Os fregueses chegavam lá, pediam as últimas
novidades e ele ia para o piano, executando a Tonkinoise ou a Valse Brune.
O Vassili, a quem chamavam de Vaska, o homem mais forte que já vi neste mundo, saía de manhã e voltava à noite. Era idoso. Quando estendia o braço, o Griska podia fazer
nele exercícios de barra-fixa. E o gigante ria. Não tinha barba nem cabelo. Seus traços eram de pedra. Parecia uma cariátide da Ponte Alexandre III. Trabalhava numa litografia. Transpirava ácidos. Onde estava, era aquele cheiro de água-forte. Os
demais estudavam Direito ou Medicina. As moças, quase todas, frequentavam o Conservatório.
Vi-os dançar, como nos quadros do Louvre. Vi-os cantar em dueto, em coro, músicas lindas que, não sei por que, tinham alguma coisa das nossas.

Paris nos tempos de Schmidt: esquina das ruas Puget, Lepic e do Boulevard de Clichy, em 1914, em foto sobre vidro recuperada pelo processo Autochrome
dos irmãos Lumière
Foto: Georges Chevalier, preservada no Museu Albert-Kahn, de Paris, em apresentação tipo Powerpoint enviada a Novo Milênio por
Jean Ange Luciano, da França, em 17/8/2013
Durante a semana, só via as moças de passagem, sempre apressadas, sempre preocupadas com as horas. Aos domingos, porém, elas se entregavam à arrumação da casa. Esfregavam
o chão, poliam os metais, punham uma certa ordem naquela "república" de estudantes. Vestiam avental, amarravam um lenço na cabeça, arrastavam tinas de água suja de andar para andar. E ficavam irreconhecíveis. Mas gozavam infinitamente com o
trabalho. Falavam, riam. Até comigo procuravam conversar.
Algumas delas eram formosas, mas não cuidavam da própria beleza. Cheguei mesmo a ter a impressão de que não gostavam de ser belas; a beleza como que as incomodava. Por
isso, usavam grandes óculos redondos, chapeuzinhos de crepe, como as velhas, vestidos que de tão simples mais pareciam toalhas de cor, amarradas à cintura. No entanto, esse descaso, não sei por quê, ainda as tornava mais sedutoras.
Estou a lembrar-me de Natacha. Era uma mulher cujos cabelos tanto podiam ser louros prateados como brancos alourados: tanto podia contar vinte como setenta anos. Alguns
companheiros chamavam-na de Bábuska. Uma vez chamei-a por esse nome e toda a casa escangalhou-se de rir. Vai ver que era palavra inconveniente. Encabulei. Depois, Jean, que na realidade se chamava Boris, explicou-me que bábuska quer dizer
vovó. Era uma alusão aos seus cabelos que um dia seriam chamados de platinum blonde e custariam fortunas para as elegantes do mundo inteiro.
As outras moças usavam cabelo penteado para trás e um bendegó na nuca, afetando muita idade. Havia também as que, aparentemente, não se penteavam: os cabelos de ouro lhes
caíam pela testa e pelos ombros, malucamente. Quando saíam, botavam na cabeça uma boina de veludo azul, como as dos pintores de Montmartre. Levavam consigo a caixa do violino ou a pasta das músicas e saíam cantando pela rua, como se fossem moleques
em dia de festa.
Nos domingos em que elas não esfregavam o chão, ficavam a conversar. As mais caseiras lavavam a roupa, com sabonete. E costuravam, cantando cantigas que pareciam cantigas
brasileiras. À noite, todos se reuniam em torno de uma mesa. Ao centro, fervia uma máquina de metal dourado a que chamavam de samovar. Bebia-se chá em copos, como água. E entornavam-se pequeninas taças de uma aguardente cheirosa a que davam
o nome de vodka. E cantavam. E dançavam. E repetiam anedotas cujo sentido eu não chegava a perceber.
Jean, ou Boris, vinha nessas noites e depois de beber ficava silencioso num canto. Uma vez, mostrando-me a alegria daquelas moças e rapazes, contou-me:
- Muitos deles estão condenados à morte. Já viram a corda nas mãos do carrasco.
- Como escaparam? - perguntei eu.
E ele, abstrato:
- Eu não sei. Eles mesmos não sabem.
Não se falou mais nisso.
Mas eu, afinal, era um menino. Todos me tratavam como tal. Graças à sua bondade, assisti a muitos espetáculos, fui a conferências em salões populares, tomei parte em
piqueniques fora de portas. Quando, um dia, recebi recursos para voltar à minha terra, já tinha entre aqueles estudantes, moços e moças, dedicados amigos.

Paris nos tempos de Schmidt: esquina das ruas de l'ecole-Polytechnique, Descartes e de la Montagne-Sainte-Geneviève, fotografada em 25 de julho de
1914, em foto sobre vidro recuperada pelo processo Autochrome dos irmãos Lumière
Foto: Stéphane Passet, preservada no Museu Albert-Kahn, de Paris, em apresentação tipo Powerpoint enviada a Novo Milênio por
Jean Ange Luciano, da França, em 17/8/2013
A tarde da partida foi memorável para mim. Estava-se em novembro. As acácias, as faias, os plátanos das grandes avenidas, dos parques e dos jardins, pareciam dourados. O
sol, batendo de viés, dava-lhes um brilho fulvo de bronze novo. Paris era uma cidade de ouro. As distâncias faziam-se ainda mais azuis. Chovia violetas sobre as casas.
Muitos me acompanharam até a porta da rua. E me deram presentes. Não sei quantos me foram levar, já noite, à estação de Saint Lazare. Era uma noite fria. No céu pálido,
aparecia a silhueta de Notre Dame. Uma pianola moía pesadamente valsas de Viena. Atravessamos avenidas e parques. Pelo caminho, puseram-se a cantar. Foram até o vagão em que tomei um apagado lugarzinho. E me encheram de doces, de livros, de
recomendações. Quando o trem partiu, fizeram uma algazarra. Debruçado na janela que me ficava ao lado, ainda vi por algum tempo os seus lenços agitados no ar: ouvi, apagando-se na distância, que ia crescendo, os seus afetuosos gritos:
- Do sfidânia! Do sfidânia!
Diziam até a vista. Mas nunca mais nos vimos. De tudo aquilo só ficou esta recordação, esta página de saudade. E, no fundo da alma, esta imensa simpatia por todos os
russos, por todos os estudantes da terra.
Affonso Schmidt
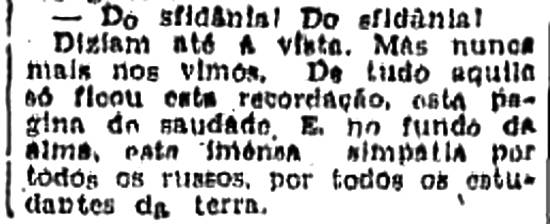
Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria |