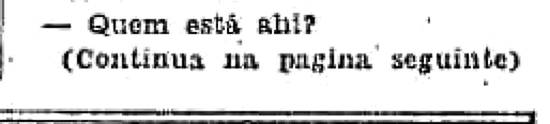Quando as chuvas de março começaram a regar os campos, Paulo Eiró apareceu na estrada de Jacareí. Vinha de muito longe. No
entanto, da viagem só se sabe que ele não conseguiu chegar a Mariana. As crônicas não falam de sua existência nos meses em que esteve desaparecido.
Ninguém sabe por onde andou, o que fez e como viveu durante tanto tempo.
A verdade, porém, é que ele não foi muito feliz na aventura, pois voltava agora descalço, andrajoso, os cabelos crescidos e a
barba à nazarena. Já não trazia consigo o embrulho de roupa. De tudo o que levara para tão longa viagem restava apenas, metido à força num bolso
exterior do casaco, o Compendium Theologiae, empenado pelas molhadelas, encardido pela soalheira.
Um preto de São Paulo, que tinha ido a Jacareí a serviço do senhor branco, viu-o sentado no adro da igreja, comendo uma fatia
de broa, a distribuir migalhas entre a passarinhada que esvoaçava confiante sobre a sua cabeça.
Dias depois, o poeta chegou a Mogi das Cruzes, numa tarde quente, com longínquas ameaças de trovoada. Procurou os amigos da
família em cuja casa dormira meses antes, no início da viagem. A casa estava fechada. Um vizinho informou-o de que os moradores tinham partido para
São Paulo, a fim de assistirem às cerimônias da Semana Santa.
Desistiu de procurar outro pouso e prosseguiu no caminho. No entanto, fazia-se noite. A escuridão da hora, acrescida das
sombras da tempestade que se aproximava, ia envolvendo a paisagem. Andou mais um estirão e encontrou uma casa solitária. Quase uma ruína. Toda de
pedra, sem reboco, com duas janelas fechadas; as portadas e batentes outrora tinham sido azuis, mas o tempo havia lavado a tinta. Sobre o telhado
negro vicejavam pés de fumo. Ao lado, um portão de tábuas equilibrava-se com dificuldade. A tiririca crescia entre as pedras chatas do terreiro.
Bateu palmas, gritou diversas vezes "Ó de casa!", sacudiu o portão, mas ninguém respondeu aos chamados. Então, deu volta ao
terreno cercado de caraguatás, penetrou no quintal e caminhou para os fundos da casa. Ali as portas estavam escancaradas. Entrou. Não havia ninguém,
mas o interior apresentava uma certa ordem; selas e barbicachos pendiam dos pregos espetados ao longo do corredor; na varanda, a mesa grande estava
coberta por uma grossa camada de poeira; dentro do armário aparecia a louça bem arrumada e, quando voltou à cozinha, viu nos varais do fumeiro
grandes jacás equilibrando no fundo gotas de salmoura.
Um cheiro de abandono, de esquecimento, pairava sobre tudo. Foi ao quarto que devia ser dos donos e empurrou a janela; as duas
folhas se abriram com facilidade e um ramo de sabugueiro espiou para dentro, aflorando-lhe o rosto. Fora, estendia-se um céu escuro, baixo, sem luz
nem estrelas. Fechou novamente a janela e, assegurando-se de que a cama estava posta, estirou-se sobre ela. Sentiu na pele o contato desagradável da
poeira acumulada sobre o cobertor. Permaneceu imóvel, a ouvir os rumores suaves do silêncio, onde havia criscilar de grilos e diálogos longínquos de
rãs. Grossos pingos de chuva começaram a cair espaçadamente no telhado. E, embalado por aquela música, por aquela doçura que subia da terra, fechou
os olhos, adormeceu...
Numa hora qualquer da noite acordou com a impressão de que alguém estava ao pé da cama. Procurou examinar o quarto, mas nada
conseguiu ver porque a treva era absoluta. Apesar disso, fechou os olhos e adormeceu de novo. Mais tarde acordou em sobressalto: o quer que fosse
continuava ali, caminhava com passos miúdos, fazendo um ruído característico no chão de terra socada.
- Quem está aí?
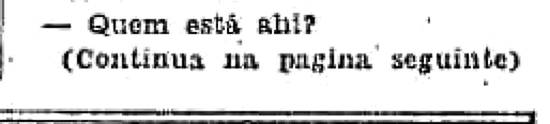
Imagem: reprodução parcial da pagina 4 com a matéria
Ninguém respondeu. Instintivamente estendeu a mão e tocou num queixo alongado, que terminava em barba áspera. Então, o
visitante noturno afastou-se apressadamente para o interior da casa.
Tranquilizado por aquela retirada, Paulo Eiró virou para o canto e adormeceu pesadamente. Quando acordou, o sol entrava por
todas as frestas do telhado; as réstias finas iam bater no chão negro, formando discos de ouro. Ao longo dos estiletes de luz, passavam e repassavam
as moscas; uma poeirinha imponderável subia e descia, lentamente.
Levantou-se e foi para o quintal. Viu que se encontrava numa tapera, talvez uma dessas casas que os donos abandonavam por
mudança, por doença ou por morte na família. O mato crescia por toda parte. Os passarinhos aninhavam-se sobre o poço, na erva que crescia na
travessa, onde a roldana havia muito se imobilizara. Um bode escuro, sem notar a sua presença, mordiscava nas brotalhas da cerca.
Abandonou a tapera e, depois de andar outro estirão, chegou ao rancho de um caboclo que lhe ofereceu café. Aceitou-o. E, como o
dia estivesse esplêndido, prosseguiu no caminho para S. Paulo.
Antes de chegar à Penha, o caipira que o havia acolhido na ida acolheu-o com igual carinho na volta. E no dia 17 de março,
desse triste ano de 1860, chegava de torna-viagem às proximidades da capital da Província.
Ao escurecer, ouvindo as Ave Marias da igreja de Nossa Senhora da Penha, entrou no templo, fez orações e retomou o caminho da
cidade. Tarde da noite chegou à Ladeira do Carmo. A várzea estava toldada de neblina e lá para cima a cidade dormia. Um silêncio pesado caía sobre
os tetos baixos, alongados para a rua. Pensou em dormir o resto da noite nuns barrancos da ladeira, mas resolveu ir à Rua de São José, pedir pouso à
tia Anninha.
O relógio do colégio bateu pausadamente meia-noite.
Alcançou a Rua do Carmo e seguiu por ela em direção do pátio do Colégio, a fim de alcançar a Rua da Imperatriz. No entanto, ao
passar pela Fundição, notou certo movimento lá para as bandas da Sé. Que seria? Por ali se encontravam estacionados, além dos tílburis, carros
particulares à espera dos proprietários.
Dirigiu-se para o Largo da Sé e encontrou-o movimentado. O templo estava cheio de luzes e, pela porta larga, viu o interior
festivo. Em 1860, os casamentos elegantes ainda se realizavam à noite. Sentiu aguda curiosidade e entrou. Os convidados, que eram toda a gente de
algo da cidade, afastavam-se cautamente ao verem aquele maltrapilho, sujo e feio como um desenterrado. Assim, ele seguiu entre sobrecasacas e saias
rodadas até as imediações do altar-mor e ajoelhou-se. Mas, ao iniciar o primeiro Pater, ouviu um ruído alegre: entravam os noivos, os
padrinhos, os pajens...
Interrompeu a oração e ergueu os olhos. Lá vinham eles, lentamente, entre alas de admiradores. O noivo era um rapaz alto,
forte, que parecia orgulhoso da jovem que trazia pelo braço. A noiva era também alta, fina, de passos ondeantes, toda envolta numa nuvem de sedas e
de véus esvoaçantes. Teve a impressão de que os conhecia. Sim, era o Juca! Era a Musa! Então, passou as mãos pelos olhos. Sim, eram eles, eram
eles...
A mulher que ele muito amou casou-se, de fato, segundo os documentos, a 17 de março de 1860, à meia hora depois da meia-noite.
"Eram ambos nubentes fregueses da Sé, tendo servido de testemunhas Malachias Rogerio de Salles Guerra e Julio Cesar de Miranda Guerra, este irmão e
aquele tio do noivo". Os convidados acompanharam os nubentes até o altar e na confusão que se operou foi possível a Paulo Eiró sair dali e alcançar
a porta do templo.
Na praça, iluminada de lanternas, ouvia-se o piafar