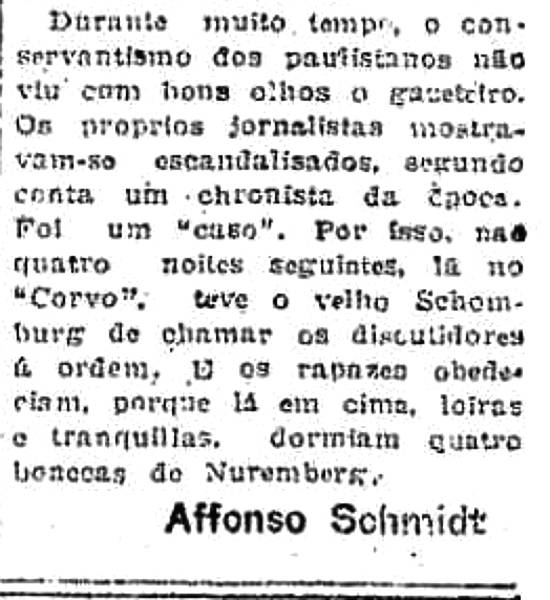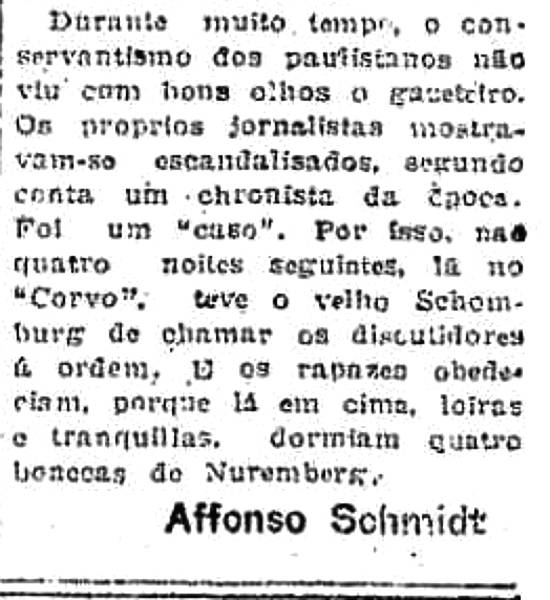Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria
Bernard Gregoire
(A propósito do centenário da imprensa paulista, comemorado hoje pelo Instituto Histórico)
Aí por 1875, a vida dos paulistanos ainda se escoava docemente; a capital continuava a ser, com leves mudanças, a vila provinciana de estudantes e beatas, onde a gente morigerada regulava as doçuras da existência tranquila pelo sino do mosteiro
de S. Bento. E como o acertador daquelas badaladas era o relojoeiro Henrique Fox, a Paulicéia ordeira de antanho funcionava com a regularidade de um cuco empoado e moroso.
O casario velho, com beirais de meia braça e janelas de arco, apinhava-se ao longo das ruelas tortuosas e estreitas, riscadas nas colinas que medeiam entre o Tamanduateí e o Anhangabaú. Naquela época, porém, o primeiro desses rios desconhecia as
muralhas que hoje o conduzem por entre jardins dourados de ipês, e o segundo ainda não havia sido encafuado nas galerias de pedra que o sequestram da risonha baixada do Piques.
Fora disso, eram chácaras quase tão vastas como fazendas, onde as famílias da época viviam num suave recolhimento, cultivando bom chá e melhores princípios.
Então, já corriam bondes pelas ruas Direita e da Imperatriz, entre o Carmo e a estação da Ingleza. Carros de praça e tílburis estacionavam na Sé e em S. Bento; os boleeiros de chapéu atirado para a nuca, e ponta de cigarro esquecida no canto da
boca, dormiam na boléia; as pilecas piafavam nos varais e as lanternas enchiam de números vermelhos a escuridão.
Os trens da Estrada do Norte chegavam ao Braz e os da São Paulo Railway, inaugurada dez anos antes, com um desastre famoso, paravam na Luz. De manhã, e de tarde, espalhava-se pelas ruas uma imprensa vivaz. E, noite adiante, os lampiões de gás da
iluminação pública abriam, na garoa, as suas borboletas auri-azuladas.
Cerca de meia noite, cumpria-se a promessa dos anúncios de espetáculos; havia bondes para todas as linhas, mas eram os últimos. Meia hora de animação acordava os ecos adormecidos: era a gente que voltava dos teatros S. José e Provisório. Nas
ruas, escassamente iluminadas, foscas de neblina, aqueles bondes de três bancos passavam tilintando campainhas, as ferraduras das bestas lascavam fogo no calçamento de pedra, o comprido chicote silvava no ar e os condutores assobiavam longamente
nas esquinas.
Depois disso, só se encontravam as figuras esqueléticas e cabeludas dos noctâmbulos. São Paulo de 1876 tinha vida noturna. Havia a Sereia Paulista, o Stadt Coblenz, o Hotel Planet, onde o rapazio passava as suas noites. As casas alegres também
ficavam abertas, enchendo as ruas ermas com falatórios e risadas. Os cafés estendiam toalhas de luz sobre os passeios de ladrilhos. Um deles, o Europeu, na esquina do Largo do Tesouro com a Rua da Imperatriz, nunca fechava as portas; nem poderia
fechá-las, pois o proprietário as havia suprimido, por inúteis.
Havia também uma cervejaria literária: "O Corvo". Esta casa, de propriedade do alemão Henrique Schemburg, ficava num sobradinho da Rua do Ouvidor, entre o largo do mesmo nome e a Caixa d'Água. Era o depósito da então famosa cerveja da Penha.
Compunha-se de um portão, sempre aberto, e de duas portas, sempre fechadas. O portão dava acesso a um corredor que ia ter no fundo do quintal, sombreado de machucheiros. Aí havia a cocheira para os animais, que durante o dia transportavam as
carrocinhas apinhadas de garrafas; um galpão onde os barris de cerveja se acamavam em duas filas, e o canil dos terras-novas, única e entranhada mania do velho cervejeiro.
As duas portas sempre trancadas eram providas de venezianas, do meio para cima, para ventilar o salão. Entrava-se para esse compartimento por uma porta rasgada a meio do corredor. Era escuro e cheirava a estopa úmida. No alto, dois lampiões
belgas esfumavam ainda mais o teto, ao mesmo tempo que derramavam a sua claridade amarelenta e tranquila sobre oito mesas quadradas, toscas, rodeadas de mochos altos.
Os copos de porcelana pintada, com tampas de metal, eram enchidos fora, na torneira gotejante dos barris, e servidos por dois mocetões, que iam e vinham sem parar. A espuma branca saltava às vezes para o chão e se embebia na serragem de madeira.
O proprietário ficava num quarto contíguo e de lá superintendia o movimento, pedindo que as discussões, a horas mortas, não atingissem o diapasão da gritaria, porque na parte superior do prédio residia a família.
Suas filhas eram lindas e deram justificado motivo às serenatas mais chorosas da época. Mas inutilmente. O alemão era feroz: trazia a casa fechada e a chave no bolso.
Naquele salão esfumaçado fazia ponto a mocidade, nimbada de um pensamento luminoso, e os problemas mais conspícuos foram discutidos à luz do querosene e da pura filosofia. Literatos, jornalistas, estudantes, calouros e até alguns "futricas"
respeitáveis, aí se reuniam. Era um dos quartéis-generais dos "caifazes". Muitos e muitos raptos de escravos foram aí planejados. Soberbos gritos republicanos saíram daquela sala mal iluminada, úmida…
Reboou neste cenário o escândalo de que vamos falar.
- O homem parece recortado de um romance folhetim!
- Sir Jack Falstaff!
- E aquela touca?
- E a buzina?
- E o pangaré?
- Vender jornal como quem vende quitanda, é hediondo!
- É a perdição dos bons costumes, o descalabro, a anarquia!
Tudo isto foi porque na manhã de 23 de janeiro de 1876, quando o comércio abria suas portas e os caldeireiros da Rua de S. Bento entravam de martelar nos tachos, monsieur Bernard Gregoire fizera a sua entrada triunfal na cidade. A
Paulicéia sonolenta daquela manhã viu-o como ele, um dia, há de comparecer ao chamado da história: rechonchudo, de touca branca com folhos, engarfado no lombo de uma pileca, soprando numa buzina e com um pacote de jornais debaixo do braço. O povo
rodeara-o. Ele, no passo lerdo da alimária, vendia para a direita e para a esquerda exemplares de A Provincia de S. Paulo.
Monsieur
Gregoire, que já havia vendido o Petit Journal, de Paris, e a Gazeta de Noticias, do Rio, aproveitou o escândalo e iniciou daquela maneira um comércio que já enriqueceu muita gente.
Durante muito tempo, o conservantismo dos paulistanos não viu com bons olhos o gazeteiro. Os próprios jornalistas mostravam-se escandalizados, segundo conta um cronista da época. Foi um "caso". Por isso, nas quatro noites seguintes, lá no
"Corvo", teve o velho Schemburg de chamar os discutidores à ordem. E os rapazes obedeciam, porque lá em cima, loiras e tranquilas, dormiam quatro bonecas de Nuremberg.
Affonso Schmidt