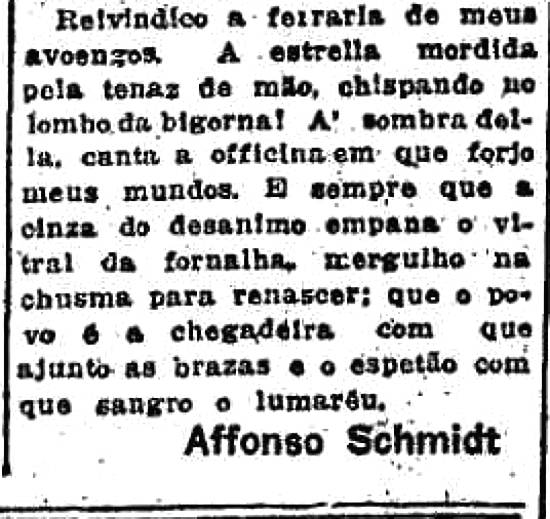|

Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria
Por uma arte mais humana
(prefácio de um romance)
Já não se manuseia livro novo sem primeiro inquirir das preocupações literárias do autor. Por isso, operário deste rude mister, tendo exposto no
mercado meia dúzia de obras de minha fábrica e que, sem corneteante pregão, desapareceram logo dos armários dos livreiros, cabe-me dizer um pouco
desta oficina, de como componho e aprimoro escritos. Aproveito para tanto o mais minguado e desunido de meus trabalhos.
Não sou futurista, nem tampouco daqueles que hoje se picam de passadismos. É que estes e aqueles, inteligências de primeira água, parecem-me
extraviados do humano sentir, vitalizando egrégoras cerebrais de pura feitiçaria, à custa de palavras dispostas, às vezes, com elegância e apuro,
mas nunca emaciadas pela dolorida realidade cotidiana.
Por temperamento, não compreendo a arte pela arte, jogo de paciência para mandarins, palavras cruzadas. Suponho sempre que quem fala ou escreve
tem um pensamento a comunicar, uma emoção a transmitir. A maneira como se desobriga da tarefa é questão de engenho, tanto melhor se dá mostras de
habilidoso e o faz por meio inesperado e chamativo. Compreendo que o vendedor ambulante de quinquilharias exiba um lagarto para atrair transeuntes
insubmissos, que lhe não prestam ouvidos às arengas, mas tenho que o fim do escritor não é mostrar bicharocos, é desdobrar um arco-íris.
Eu, por exemplo, assentei que meu fado é espalhar um pensamento que me deslumbrou, falando a gentes a quem o trato duro da existência embotou a
agudeza da percepção. Sei que se desse à minha prosa punhos engomados e os não-me-toques dos salta-pocinhas literários, jamais chegaria com esta
oferta de ideal à manjedoura rústica, onde há um Cristo pequenino, adormecido entre ervas.
Devo engrossar as linhas do desenho, tornar os pensamentos palpáveis e apetitosos como frutas, criar um esqueleto de sonho para sobre ele plasmar
a greda sanguinolenta da realidade, ou então, como faz o lavrador com terras em pousio, atirar mancheias de ideias, ainda que não sejam as da futura
safra, para enternecer corações esvaziados de todo pela vida.
Aceitaria jubiloso nova orientação artística, desde que ela correspondesse ao instante, que é um alvorecer de almas anônimas. Basta olhar em
redor. Neste momento, a fé, a ciência, a filosofia, as artes e a política vencem um período de turvação correspondente à hora encarvoada que
antecede a manhã.
Depois do paganismo, anoiteceu para os homens. A teoria das elites que fez um trajeto de ciclone e acabou na fogueira universal de 1914, cortou a
terra pelo meio, como se fosse uma laranja. De um lado resplandeceu um punhado de homens que mantinham o poder econômico e com ele todas as altas e
belas manifestações do espírito humano. A história é feita de reis, príncipes, generais e senhores de escravo. No entanto, o homem que fez tudo o
que vemos e o que pensamos só aparece nos autos de fé, iluminados pelo clarão das fogueiras. Quando sobre a escura humanidade desabrochava uma flor
de beleza ou de inteligência, colhiam-na apressadamente, para a estufa do seu mundo. Deu-se, portanto, uma seleção cuidadosa e prolongada.
Foi assim que a elite se apoderou da terra, mas perdeu contato com a humanidade, que é a fonte da vida do espírito. E a sua mentalidade, como água
empoçada que perde comunicação com as nascentes, estagnou, apodreceu, cobriu-se de monstros microscópicos. Seu coração mirrou. Seu cérebro perdeu a
elasticidade, encoscorou, transformou-se em matriz de terracota onde a matéria-prima do pensamento, arrefecendo, recebia sempre as mesmas formas. Os
filósofos tinham o cérebro de certas máquinas de Nuremberg, recebiam o metal candente e expeliam aos montes, às toneladas, soldadinhos de chumbo.
De outro lado, porém, a humanidade que não cessa um só instante de criar, continuou nas suas atividades durante o largo período de esquecimento em
que viveu. Como as espigas mais altas eram logo colhidas pela seleção atenta, a obra fez-se ainda mais anônima do que a silenciosa obreira. Há
séculos, todos os que mergulham na chusma, voltam atônitos à superfície; encontram lá embaixo um mundo novo, esplêndido e ameaçador… E até hoje
todas as obras de arte que ficaram têm um cheiro ácido de suor humano.
Na escuridão e no mal-estar dos bairros pobres, inteligências sem nome, reunindo grãos de areia, construíram sistemas novos, cheios de lógica e
beleza, mas incompreensíveis para os que se emparedaram por suas próprias mãos. Uma ossatura gigantesca, de aço, ergueu-se sobre a sociedade mais
antiga, como um arco-íris. De cada lado que se olhe, emerge um arco luminoso.
O instante que vivemos é de desequilíbrio, é o ponto em que o fiel da balança gira da direita para a esquerda, entre um universo artificial que,
nãopodendo se transformar mais, cristalizou, e o arcabouço do mundo novo, que se delineia, que se condensa entre nebulosas. Ambos se confundem nas
suas linhas gerais, mas para o âmago se tornam adversos e, à proporção que se interpenetram, entram em conflito.
Já não pode haver homem assaz cordato para viver em paz com os outros e consigo mesmo. Todas as vezes que erguemos o pé para dar um passo,
encontramo-nos diante de vários caminhos. Viver é julgar com rapidez, clareza e valentia; quem hesita, mete um paralelepípedo no alforje, sentirá
para sempre o peso da hesitação.
Acho, portanto, ingênuo reformar uma arte nas suas exterioridades, deixando intacto todo o seu sistema endurecido pela arteriosclerose. Não
devemos nos preocupar com os seus atavios, mas com o pensamento que a anima. Uma concepção nova exigirá expressões novas e a transformação se fará
por si mesma, como a fisionomia da cidade de ano para ano, de século para século, mercê da iluminação, dos veículos, de tudo quanto o homem faz para
melhorar a vida.
Há momentos em que essa reforma que por aí vai se torna ridícula; é quando vemos os apóstolos da expressão moderna camparem de guardiões da vida
artificial que ainda levamos hoje, como guardiões da vida artificial que ainda levamos hoje, como cidadãos fossilizados, de um mundo que já não
existe, que morreu em 1914. Quem quer ser domador de morcegos, não constrói câmaras escuras, ao contrário, trata de habituá-los ao esporte de
encarar o sol.
Estamos numa época em que todos sabem o que é preciso dizer. Quem silencia, trai; desaparece. Já não há mais o inútil, há apenas o prejudicial; é
tudo o que perverte, toma espaço, absorve energias indevidas.
Não me sobra tempo para o convívio agradável dos poetas. Além disso, são criaturas muito suscetíveis. Nunca consegui estar inteiramente às boas
com esses moços, de todas as idades. Por isso, nos dias de festa, em que fico em casa, prefiro o trato dos manuais que ensinam, numa linguagem chã,
as profissões humildes, porque nas suas folhas encontro, como em veio farto, extreme da ganga literária que cega o gume da palavra e tolda a
transparência da expressão, aquele sedimento aurífero de milhares de anos de trabalho e miséria. Escrever assim é garimpar. É ir decantando águas
ricas sobre o veio áspero da prosa comum. Quando a operação acaba, a bateia resplandece.
Não há mister de inspiração. Para escrever, basta arregaçar as mangas. A observação seca e direta desce por si mesma ao bico da pena; a arte está
em conservar-lhe a frescura, como a um ramal de rosas, em conservar-lhe a vibratibilidade de um feixe de músculos despidos da própria pele.
Deste desejo fiz minha arte. Se nada consegui, resta-me o consolo de o ter desejado. Daria tudo para atingir a última simplicidade, de modo a
exprimir coisas pensadas em palavras vívidas; enxaguar a prosa até poder falar ao tecelão com a fluência do fio mercerizado que escorre dos teares,
ao ir e vir, azeitado, das lançadeiras; à maruja, subindo a pensamento tal como os grumetes grimpam pelos enfrechates das enxárcias até ocesto da
gávea; aos pescadores, que são homens cor de ferro, lanceando ideias num picaré de dois calões, emalhando-as no rebojo como peixes prateados entre a
chumbada que se arrasta na areia e as cortiças bem entralhadas, que boiam na arrebentação.
Reivindico a ferraria de meus avoengos. A estrela mordida pela tenaz de mão, chispando no lombo da bigorna! À sombra dela, canta a oficina em que
forjo meus mundos. E sempre que a cinza do desânimo empana o vitral da fornalha, mergulho na chusma para renascer; que o povo é a chegadeira com que
ajunto as brasas e o espetão com que sangro o lumaréu.
Affonso Schmidt
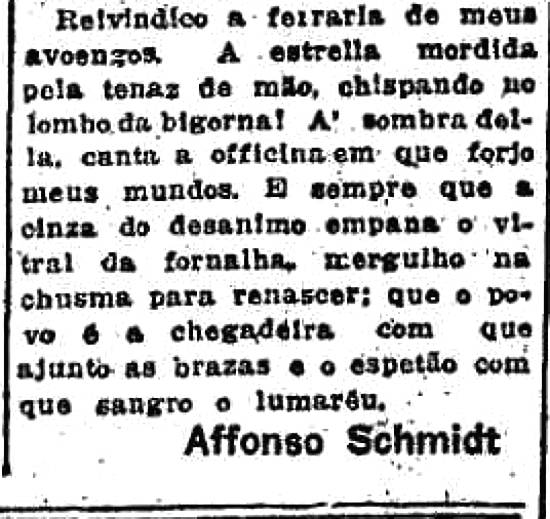
Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria |