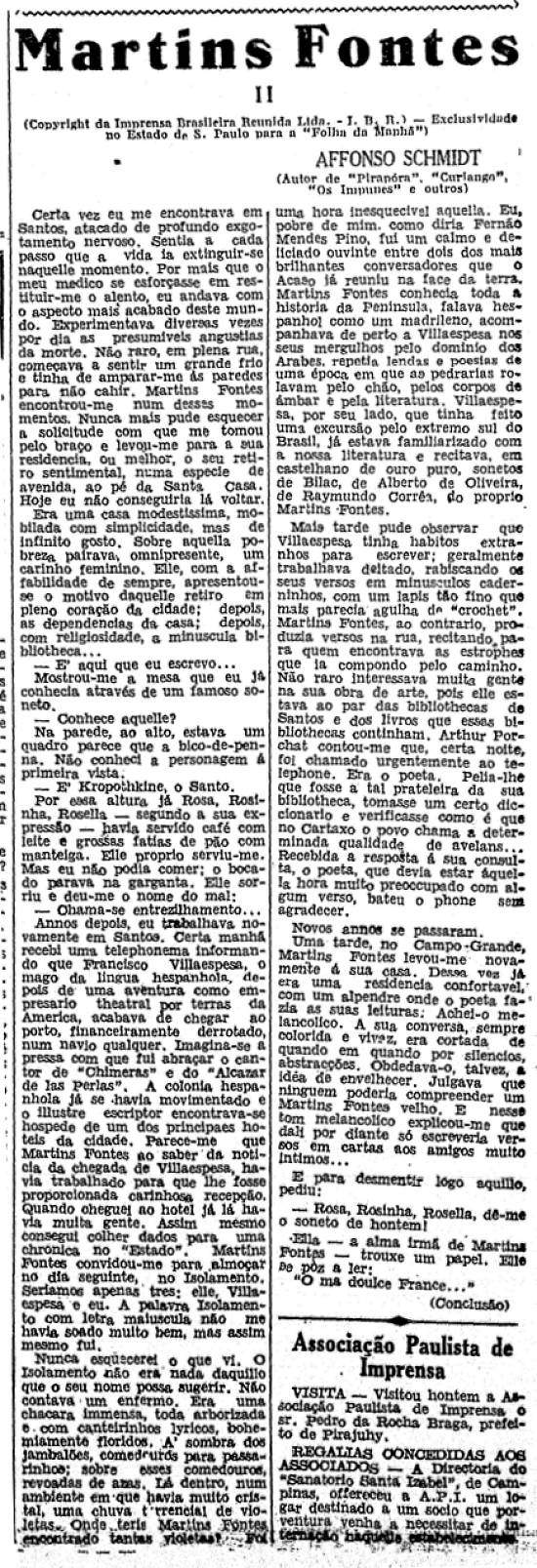(Copyright da Imprensa Brasileira Reunida Ltda. (I.B.R.) - Exclusividade no Estado de S. Paulo para a "Folha da Manhã")
Afonso Schmidt
(autor de "Pirapora", "Curiango", "Os Impunes" e outros)
I
Martins Fontes é uma dessas flores de humanidade que só muito raramente desabrocham sobre a terra. Sua passagem pelo nosso meio foi curta, mas deslumbrante. É preciso agora
reunir tudo quanto se souber da sua múltipla e admirável personalidade para transmitir às gerações futuras. Todos os que se aproximaram da sua inteligência e da sua bondade têm o dever de depor perante a história, a fim de que nada se perca do
poeta, do médico, do cidadão exemplar.
Eu, infelizmente, não pertenço ao número daqueles que mais conviveram com o admirável cultor do suavíssimo idioma. Embora santista e poucos anos mais moço do que ele, a minha vida sempre inquieta não nos permitiu
prolongada convivência. Nós nos encontrávamos raramente, com grande manifestação de entusiasmo, o que não era raro no meu conterrâneo, que parecia ter na alma todo o sol do meio dia. No entanto, por uma questão de temperamento, de afinidades, eu
consegui, talvez, ser mais estimado por Silvério Fontes, o pai do nosso grande poeta. Ora, Martins Fontes adorava, tinha um grande orgulho do pai, e eu, talvez por isso, me permiti a liberdade de não concordar com alguns de seus entusiasmos, sem
incorrer numa daquelas frases memoráveis com que ele, sempre se fazia mister, chamava alguém à realidade.
No início da minha carreira literária, nas rodinhas de cafés ou pelas noites paulistanas, encharcadas de garoa, tive um verdadeiro curso sobre Martins Fontes. Devo-o a Joaquim Augusto Corrêa, poeta de grande
fantasia, que morreu sem ter escrito um só verso. Em compensação, sabia tudo o que se relacionava com o Zéca, lá no Rio, entre os maiores poetas da época.
O Zéca, para o saudoso Quinzinho, era apenas Martins Fontes. Mais tarde, vim saber que aquelas histórias, aquelas formidáveis anedotas, aqueles versos, repetidos a propósito de tudo, eram pura imaginação do meu
querido e saudoso amigo; as suas relações com o autor de "Verão" deviam ser em realidade muito discretas, talvez não tivessem passado da costumada apresentação numa mesa do Paschoal, entre vinte escritores bem humorados.
Muito tempo depois, em Santos fui conhecer pessoalmente a Martins Fontes.
Forte, sanguíneo, envergando um pulcro terno de linho, o chapéu de palha levemente inclinado para trás, à moda do tempo, explicava qualquer coisa numa roda. Que eloquência, que voz admirável, que gesticulação
elegante, que finura nas observações! Passei a ter medo muito pronunciado daquela "verve" esfuziantes, daquele bom humor quase agressivo, eu que sempre fui concentrado e incapaz de dizer uma frase capaz de ser repetida.
Mas devo acrescentar que o meu temor era infundado. Sem motivo aparente - a não ser a minha veneração por Silvério Fontes -, ele sempre, em todos os momentos, me dispensou uma afeição fraternal, com finuras e
delicadezas que - coisas desta vida agitada - nem sempre correspondi com o carinho e a espontaneidade que mais desejei.
Uma vez Martins Fontes entrou na redação do Commercio de Santos, onde eu me divertia descompondo o governo. Sentou-se a uma cadeira ao lado da minha e, abanando-se com o chapéu de palha, falou em voz baixa,
comovido:
- Venho recorrer a você num assunto grave. Acabam de oferecer-me uma cadeira de deputado e eu não quero aceitá-la sem que para isso você me dê licença...
Pura "blague". Nem precisava acrescentar.
De quando em quando, encontrava-o no mesmo bonde. Era um comício. Conhecia toda gente. Sabia de tudo. Outras vezes, não dizia uma só palavra. Mostrava-se triste, incomunicável. A explicação era simples: esse
médico, que passava a vida nas grandes enfermarias, onde havia doentes em cima e em baixo das camas, mostrava-se assim perturbado quando tinha algum cliente para morrer.
Geralmente - que era lindo para o seu caráter - essa sensibilidade toda se manifestava quando o cliente em questão era um daqueles pobres enfermos que rolavam de miséria pelo morro abaixo e iam extinguir-se já não
no leito, mas num dos corredores do hospital sempre superlotado. Às vezes, via-o na rua enxugar uma lágrima.
- Que é isso, Fontes?
- Amigos que se vão...
Foi assim com Mimi Alfaya, com Fabio Montenegro, com Paulo Gonçalves.
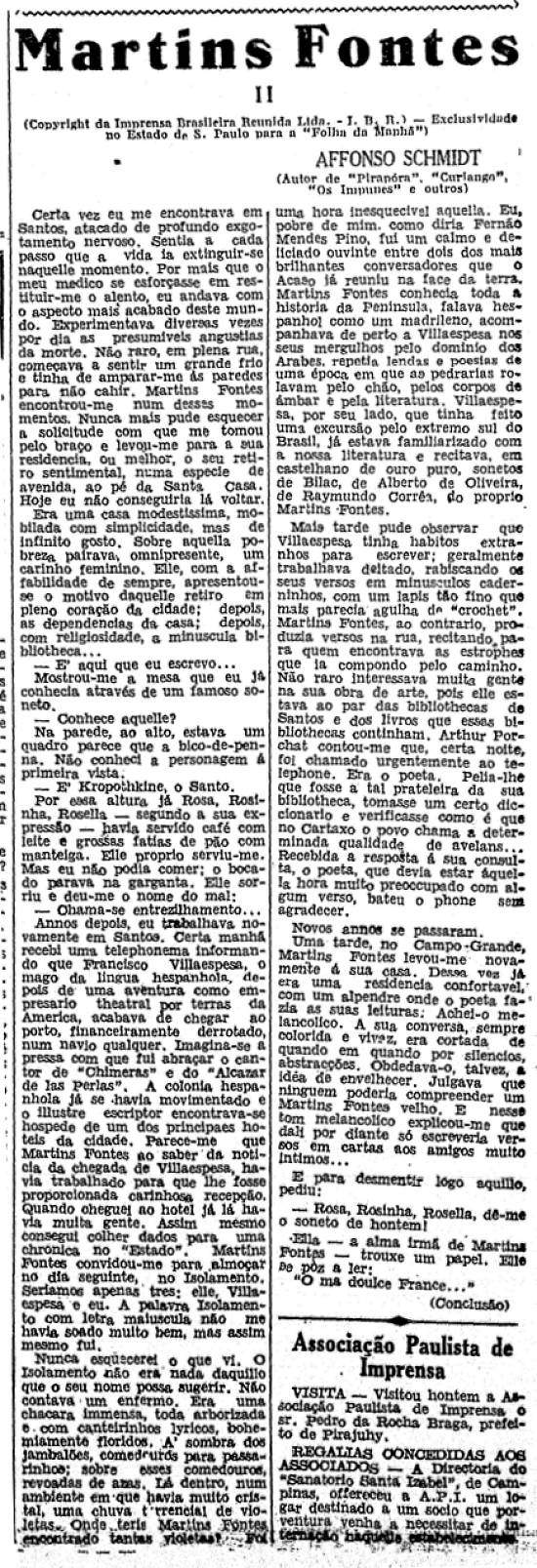
Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria
II
Certa vez eu me encontrava em Santos, atacado de profundo esgotamento nervoso. Sentia a cada passo que a vida ia extinguir-se naquele momento. Por mais que o meu médico se esforçasse em restituir-me o alento, eu
andava com o aspecto mais acabado deste mundo. Experimentava diversas vezes por dia as presumíveis angústias da morte. Não raro, em plena rua, começava a sentir um grande frio e tinha de amparar-me às paredes para não cair.
Martins Fontes encontrou-me num desses momentos. Nunca mais pude esquecer a solicitude com que me tomou pelo braço e levou-me para a sua residência. Ou melhor, o seu retiro sentimental, numa espécie de avenida, ao
pé da Santa Casa. Hoje eu não conseguiria lá voltar.
Era uma casa modestíssima, mobiliada com simplicidade, mas de infinito gosto. Sobre aquela pobreza pairava, onipresente, um carinho feminino. Ele, com a afabilidade de sempre, apresentou-se o motivo daquele retiro
em pleno coração da cidade; depois, as dependências da casa; depois, com religiosidade, a minúscula biblioteca...
- É aqui que eu escrevo...
Mostrou-me a mesa que eu já conhecia através de um famoso soneto.
- Conhece aquele?
Na parede, ao alto, estava um quadro parece que a bico-de-pena. Não conheci a personagem à primeira vista.
- É Kropothkine, o Santo.
Por essa altura já Rosa, Rosinha, Rosella - segundo a sua expressão - havia servido café com leite e grossas fatias de pão com manteiga. Ele próprio serviu-me. Mas eu não podia comer; o bocado parava na garganta.
Ele sorriu e deu-me o nome do mal:
- Chama-se entrezilhamento...
Anos depois, eu trabalhava novamente em Santos. Certa manhã recebi uma telefonema informando que Francisco Villaespesa, o mago da língua espanhola, depois de uma aventura como empresário teatral por terras da
América, acabava de chegar ao porto, financeiramente derrotado, num navio qualquer. Imagina-se a pressa com que fui abraçar o cantor de Chimeras e do Alcazar de las Perlas.
A colônia espanhola já se havia movimentado e o ilustre escritor encontrava-se hóspede de um dos principais hotéis da cidade. Parece-me que Martins Fontes, ao saber da notícia da chegada de Villaespesa, havia
trabalhado para que lhe fosse proporcionada carinhosa recepção.
Quando cheguei ao hotel, já lá havia muita gente. Assim mesmo, consegui colher dados para uma crônica no Estado. Martins Fontes convidou-me para almoçar no dia seguinte, no Isolamento. Seríamos apenas três:
ele, Villaespesa e eu. A palavra Isolamento com letra maiúscula não me haia soado muito bem, mas assim mesmo fui.
Nunca esquecerei o que vi. O Isolamento não era nada daquilo que o seu nome possa sugerir. Não contava um enfermo. Era uma chácara imensa, toda arborizada e com canteirinhos líricos, boemiamente floridos. À sombra
dos jambolões, comedouros para passarinhos; sobre esses comedouros, revoadas de asas. Lá dentro, num ambiente em que havia muito cristal, uma chuva torrencial de violetas. Onde teria Martins Fontes encontrado tantas violetas?
Foi uma hora inesquecível aquela. Eu, pobre de mim, como diria Fernão Mendes Pinto, fui um calmo e deliciado ouvinte entre dois dos mais brilhantes conversadores que o Acaso já reuniu na face da terra. Martins
Fontes conhecia toda a história da Península, flava espanhol como um madrilenho, acompanhava de perto a Villaespesa nos seus mergulhos pelo domínio dos Árabes, repetia lendas e poesias de uma época em que as pedrarias rolavam pelo chão, pelos
corpos de âmbar e pela literatura. Villaespesa, por seu lado, que tinha feito uma excursão pelo extremo Sul do Brasil, já estava familiarizado com a nossa literatura e recitava, em castelhano de ouro puro, sonetos de Bilac, de Alberto de Oliveira,
de Raymundo Corrêa, do próprio Martins Fontes.
Mais tarde pude observar que Villaespesa tinha hábitos estranhos para escrever; geralmente trabalhava deitado, rabiscando os seus versos em minúsculos caderninhos, com um lápis tão fino que mais parecia agulha de
crochê. Martins Fontes, ao contrário, produzia versos na rua, recitando, para quem encontrava, as estrofes que ia compondo pelo caminho. Não raro interessava muita gente na sua obra de arte, pois ele estava ao par das bibliotecas de Santos e dos
livros que essas bibliotecas continham.
Arthur Porchat contou-me que, certa noite, foi chamado urgentemente ao telefone. Era o poeta. Pedia-lhe que fosse a tal prateleira da sua biblioteca, tomasse um certo dicionário e verificasse como é que no Cartaxo
o povo chama a determinada qualidade de avelãs... Recebida a resposta à sua consulta, o poeta, que devia estar àquela hora muito preocupado com algum verso, bateu o fone sem agradecer.
Novos anos se passaram.
Uma tarde, no Campo Grande, Martins Fontes levou-me novamente à sua casa. Dessa vez já era uma residência confortável, com um alpendre onde o poeta fazia as suas leituras. Achei-o melancólico. A sua conversa,
sempre colorida e vivaz, era cortada de quanto em quando por silêncios, abstrações. Obsedava-o, talvez, a a ideia de envelhecer. Julgava que ninguém poderia compreender um Martins Fontes velho. E nesse tom melancólico explicou-me que dali por
diante só escreveria versos em cartas aos amigos muito íntimos...
E para desmentir logo aquilo, pediu:
- Rosa, Rosinha, Rosella, dê-me o soneto de ontem!
Ela - a alma irmã de Martins Fontes - trouxe um papel. Ele se pôs a ler:
"O ma doulce France..."