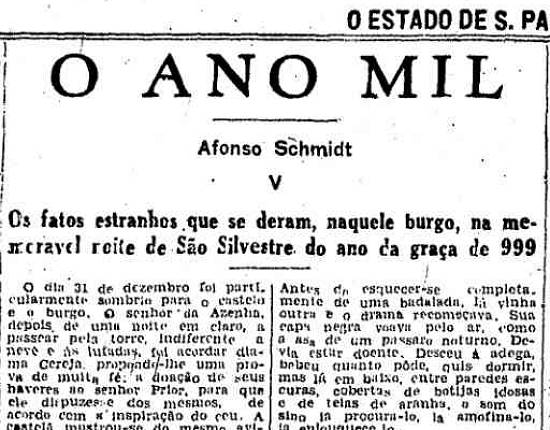|

Imagem: reprodução parcial da pagina 5 da edição de
25/11/1944 com o texto
IV
O fidalgo recolheu-se à sua mansão e ali ficou por muito tempo, mas uma tarde aconteceu
que...
Desgostoso com tudo o que lhe havia sucedido, o fidalgo fechou-se no castelo da Azenha e ali ficou,
esperando que acabasse de passar por sobre a Europa aquele vento de loucura. Uma tarde de dezembro, estava ele junto ao fosso, a espiar a povoação,
a apertar o crânio peludo entre os dedos curtos, quando Rabanete se aproximou e disse:
- Boa tarde, compadre.
- Vai-te para o inferno.
- Não tenha pressa, que iremos juntos. Dentro de alguns dias...
- Também tu?
E ia castigá-lo quando o jogral atravessou o dedo sobre os lábios, recomendando-lhe silêncio.
Diante daquele gesto, o senhor mudou de atitude. Então Rabanete esticou o fura-bolos na direção do burgo, indicando um ponto no céu, entre um morro
pelado e uma torre negra. O fidalgo mergulhou os olhos no céu e, depois de ligeiro esforço, notou qualquer coisa que lá não devia estar, mas que lá
estava.
Era um hemiciclo prateado, como o da lua no minguante, mas bem menor. Para o lado de fora o desenho
era nítido, mas para o lado de dentro ia-se apagando aos poucos, até que a vista não conseguia distinguir mais nada. Era um astro. Um astro
exatamente como aquele que, havia mais de um ano, os velhos graves do mercado, de samarra cor de folha seca e chapéu rodeado, de aba revirada,
tinham predito o aparecimento como sendo do fim do mundo.
Rabanete ali estava ereto e silencioso. O fidalgo não ouviu nem mesmo o som leve de seus guizos. E,
pela primeira vez, diante daquele arco prateado, perdeu o ar insolente com que aturava as superstições alheias. O rosto tisnado empalideceu. As mãos
em pala sobre os olhos tiveram um tique nervoso. A princípio não quis revelar a ninguém a descoberta. Passou parte da noite naquele lugar, na
esperança de que o núcleo luminoso desaparecesse, como acontece com alguns sinais do céu.
Mas aquele não se perdeu, como uma lebre nas campinas azuis. Alta noite lá estava o astro, talvez
um poucochinho maior. Por isso, resmungando, o fidalgo subiu aos seus aposentos. Encontrou Dama Cereja acordada, entre as suas açafatas. Olhou para
baixo e viu o pátio interno cheio de homens de armas que andavam de um lado para outro, trocando palavras breves, em voz baixa. Compreendeu. Todos
eles estavam igualmente ao par da novidade.
Nessa noite não conseguiu pregar olho. Ao primeiro raio de sol que entrou pelas fisgas da recâmara,
chamou Rabanete que dormia entre as palhas do galinheiro, ao pé da ucha (N. E.: arca em que os
lavradores guardam gêneros alimentícios), e com ele saiu do castelo. Havia meses que não descia
ao burgo. Estava-se em dezembro. A neve branquejava pelas encostas, acumulava-se nos caminhos, deformava as árvores esqueléticas, os tetos, as medas
abandonadas. E tinha um tom azulado que lhe pareceu novo.
Na última volta do Outeiro, antes de alcançar as primeiras casas, amo e jogral sentiram-se
envolvidos por nuvens de abelhas, zumbidoras e esvoaçantes. Nunca tinha visto aquilo no inverno. E se pôs a defender-se com o bastão...
- Que será isto?
Rabanete sabia tudo.
- São os enxames desatinados. As mulheres abandonaram os abelharucos. As abelhas comeram todo o mel
e só deixaram a samorá (N. E.: samorá, saburá ou "pão das abelhas" é o pólen modificado e
guardado nas colméias pelas abelhas sem ferrão, conhecidas como meliponíneos. Semelhante ao pólen apícola, tem maior acidez e vitamina K, mais
proteínas e menos carboidratos). Agora, andam por aí, sem saber o que fazer das patinhas
enregeladas...
Mais adiante, passaram pelo estábulo. As portas, havia meses, permaneciam escancaradas. As vacas,
por hábito, todas manhãs, procuravam as baias vazias e como ninguém aparecesse para lhes dar feno ou mugi-las, abriam grandes bocas e se punham a
lamentar-se do abandono. Aquilo cortava o coração. Os úberes túrgidos respingavam leite sobre o chão coberto de palha.
Quando chegaram ao Campo dos Beneditinos, viram numerosos vadios diante de uma casa. Unhaço, o
onzenário que ordinariamente tirava couro e cabelo das vítimas, parecia ter enlouquecido. Estava à janela, muito aflito. Não sabia o que fazer do
ouro da agiotagem, um ouro que cheira a sangue. Sacudia no ar um saco de couro e em lugar do tinido peculiar das moedas, só ouvia choro e ranger de
dentes. O sovina, até mesmo naquela hora grave, não perdia o sestro de segurar os objetos com as unhas, mantendo-os sempre para o lado de dentro,
com receio de que lhos tomassem. Mas a verdade é que ninguém se sentia tentado a arrebatar-lhe o ouro do inferno. Então, sabe Deus com que gana
perguntou aos vadios:
- Quem quer o meu sangue?
Chamava de sangue ao seu dinheiro. Diante de tal oferecimento, os valdevinos se entreolharam mas
não responderam. E o usurário, de olhos esgazeados e cabelos em pé, despejou o saco de moedas sobre a lama da praça. Alguns dos circunstantes
estiveram vai não vai para atirar-se ao tesouro, a fim de ajuntá-lo. Mas logo aos primeiros passos cuspiram para o lado e desistiram. Não pagava a
pena. Com tais discos de ouro não se comprava nada, mesmo nada, entre os anjos que enchem o reino do céu. Se ao menos o Unhaço lhes quisesse dar uma
medida de trigo, um pão branco, ou mesmo preto que fosse... E o monte de moedas lá ficou, inútil, sobre a lama.
A verdade, porém, é que já lavrava a fome. Mas ninguém se importava com ela. Quando o estômago
doía, os famintos contavam pelos dedos: mais uma semana, talvez duas... Depois... Além do mais, seria melhor estourar de fome num dia ensolado como
aquele, do que esperar o grande dia, para extinguir-se entre colunas de fogo e tempestades de cinzas.
O fidalgo e o jogral ainda estavam na contemplação daquelas moedas perdidas na rua quando uma cena
igualmente curiosa se lhes apresentou. Homens e mulheres, enlouquecidos, desembocaram no campo e passaram perseguindo a não se sabe quê. Diante
deles, via-se Bugalhão, o cego de nascença. Caminhava com a cabeça voltada para o céu, os braços estendidos para a frente, ansioso por ver qualquer
coisa que ninguém via. De quando em quando, parava e gritava para os companheiros:
- Lá vai ele!
A turba ululava:
- Misericórdia! Misericórdia!
O fidalgo estremeceu de susto e perguntou a Rabanete, que sabia tudo:
- Que é aquilo?
O jogral esclareceu-o:
- Estão à procura do anjo que os deve salvar. Aquele cego de nascença diz que o vê. Os outros
acompanham-no.
E a mó de gente perdeu-se atrás do mosteiro, onde o Patusco já não enterrava os que morriam antes
do tempo, isto é, antes do dia de São Silvestre.
Angustiado, sentindo o coração apertadinho, o fidalgo retomou o caminho do castelo e, quando lá
chegou, ouviu um cântico pesado e lento... Era Dama Cereja e as aias que rezavam, puxadas por frei Cibório. Fez o possível para acompanhá-las, mas
não tinha muito jeito para aquilo. Preferia ir aos mouros.
Depois da cerimônia, subiu para a torre do poente e se pôs a espiar o céu. O astro crescia
assustadoramente. E ele ficou-se a fazer cálculos sobre o choque da terra condenada e o luminoso intruso.
Sua atenção, entretanto, foi despertada por uma gritaria lá em baixo, nas bitesgas que serpeavam
pela encosta. Que seria aquilo?
Felizmente, Rabanete estava ao seu lado e, como sempre, sabia tudo. Explicou-lhe, com grandes
gestos. Eram os esfomeados que, depois de muito matutarem sobre a morte por inanição e a morte nas grelhas, preferiram esta última, isto é,
resolveram encher o bandulho e esperar pelo grande dia. E, por fácil associação de ideias, correram ao estábulo, abateram a vaca mais gorda,
esfolaram-na, carnearam-na e, repartindo entre si nacos de carne sangrenta, ergueram fogueiras sobre a neve e fizeram uma orgia.
Em outra ocasião, seria uma festa; naquela, porém, não passava de um assalto. Mas a verdade é que,
dali a pouco, o João e o Alminhas vieram rolando uma pipa de vinho, retirada da baiuca de Gato. Durante a noite a esgotaram e pelo alvorecer, quando
o astro errante já se apresentava arqueado, com uma cauda que orçava por meia braça, ouviram-se acordes, cantilenas e grupos de maltrapilhos
começaram a dançar.
Aquele remédio para a fome que já campeava de má catadura pelo burgo foi recebido com simpatia. Nas
noites seguintes, as demais vacas do estábulo, uma a uma, tomaram o mesmo caminho. Quando estas acabaram, os festeiros da morte atiraram-se às
cabras da Bitabita e, por último, os carneiros abandonados pela encosta.
Durante o dia, maltas de velhacos, descalços e vestidos de couro de pelegos, andavam às correrias
pelos morros, à procura de uma ovelha ou de uma cabra para o bródio noturno. Ao escurecer lá desciam eles a escorregar pela neve, com a presa
atravessada nos ombros. Por fim, passaram às aves, que eram estranguladas no poleiro, diante da indiferença fatalista dos proprietários.
Quando chegou o Natal, o astro de mau augúrio já dominava o céu. O núcleo pairava no zênite e a
cauda era como um alfanje de prata ameaçando as torres quadradas. Os mais timoratos julgavam que aquele fogo branco, fogo celeste, dentro de pouco
tocaria a terra e a incendiaria. As águas do mar e a espessa camada de neve ferveriam, erguendo-se em colunas de fumaça. As florestas e plantações,
onde quer que as houvesse, seriam carbonizadas. E a população seria cozida viva...
No burgo, as comemorações do Natal foram sempre bonitas, mas nenhuma como a daquele sombrio ano de
999. Desde cedo, a população se foi reunindo à porta das igrejas e dos mosteiros. Como não coubesse no interior dos templos, ficou a tiritar nas
praças geladas. De quando em quando, homens de armas a serviço dos senhores da redondeza abriam claros na chusma, para que seus amos e famulagem
passassem.
Ao anoitecer, o senhor da Azenha irrompeu na praça. Latagões seminus, de grandes ferros na cinta,
chuçaram a escumalha ali reunida, provocando gritos e pragas. À proporção que chuçavam, que abriam caminho, o fidalgo, a esposa, as seis damas de
companhia e o truão aproximavam-se da igreja.
Imagina-se a unção com que foi ouvida aquela missa. Quando o padre se voltava para a assistência,
esta, de joelhos, se inclinava até tocar o chão com as barbas. E quando o ato terminou muitos não quiseram sair. Ali estavam melhor. Dava gosto
morrer com a alma purinha como a queria Nosso Senhor.
Mas o castelão da Azenha tratou de retirar-se. Já na praça apinhada de gente, sentindo debaixo das
sapatorras o quebrar da neve, o castelão, a castelã, as aias e até mesmo o jogral passaram por um vexame. A Troncha, que nos últimos dias andava com
o diabo no corpo, estatelou-se à sua frente, botou as mãos nas ancas e riu feio para as ricas senhoras:
- Digam-se cá... Então isso é traje com que se possa comparecer diante de Deus Nosso Senhor?
Houve risadas pela chusma. Uma voz alteou-se:
- Mulherzinha, respeita as senhoras!
E a Troncha, a boca cheia de asco:
- Ora bolas! Diante da morte que nos espera a todos, tanto vai como tanto vai!
O primeiro pensamento do fidalgo foi chamar um dos seus besteiros e arredar dali a má mulher. Mas
não o fez. É que, sobre a sua cabeça, o astro resplandecente parecia transformar-se numa chuva de prata que caía sobre os outeiros, o castelo, as
torres e os casebres do burgo.
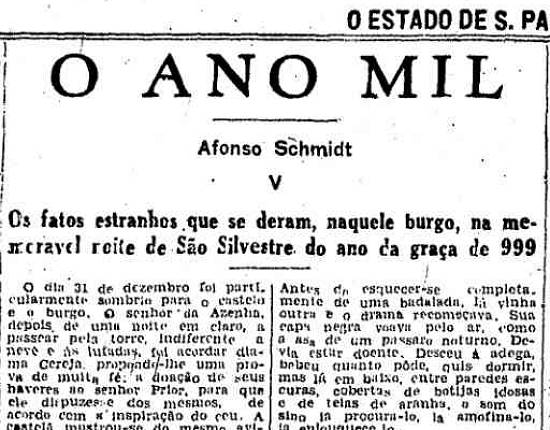
Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
28/11/1944 com o texto
V
Os fatos estranhos que se deram, naquele burgo, na memorável noite de São Silvestre do ano da
graça de 999
O dia 31 de dezembro foi particularmente sombrio para o castelo e o burgo. O senhor da Azenha, depois de uma noite em claro, a passear pela
torre, indiferente à neve e às lufadas, foi acordar Dama Cereja, propondo-lhe uma prova de muita fé: a doação de seus haveres ao senhor Prior, para
que ele dispusesse dos mesmos, de acordo com a inspiração do céu. A castelã mostrou-se do mesmo aviso. Seria o meio de alcançarem a graça divina,
numa hora tão aflita como aquela...
Logo depois, o castelão, acompanhado de Rabanete, desceu no burgo e dirigiu-se à casa do homem que servia de notário. Lá chegando, pasmou de
encontrar tanta gente. É que a mesma ideia tinha ocorrido aos ricos homens da região. O notário estava vestido em traje de circunstância, sentado no
escabelo, diante da mesa, onde havia folhas de bambagina e um pote de tinta, feita de nozes de galha e ferrugem. No bocal do tinteiro, pendia uma
pena de pato bem aparada. Algumas pessoas escolhidas entre os letrados do burgo serviam de testemunhas. Quando o fidalgo chegou, seu amigo, o
castelão da Mostarda, estava ao pé da mesa. Casponio escrevia:
"Apppropinquante fine mundi..."
O senhor da Mostarda foi ditando:
"...eu, abaixo assinado, senhor da torre da Mostarda, de terras cultivadas e em pousio, de albergarias, servos e gados, ouros, moedas e alfaias,
lego tudo isso de bom grado ao senhor Prior para que ele os encaminhe como for de sua inspiração. E para que mereça fé aqui ponho, na presença das
testemunhas, a minha assinatura..."
O notário passou-lhe a pena, mas ele não sabia escrever. Então foi o Sabença que, tirando a pena que trazia espetada na peruca, apôs a assinatura
no documento. A seguir, passou-lhe a pena molhada na tinta para que rabiscasse numa cruz, sob o seu nome, o que foi feito com certa inabilidade.
Terminada a doação, o senhor da Mostarda exclamou:
- E se esta choldra não estoirar?
Um velho quis tranquilizá-lo:
- Há de estoirar, com a graça de Deus...
O castelão da Mostarda, que era ainda rijo e fero, pensou um pouco e deu de ombros:
- Ora, que não estoire. Sem eira, nem beira, nem ramo de figueira, atirar-me-ei à moirama. Serão favas contadas!
E saiu a correr para a praça.
O senhor de Azenha tomou o seu lugar ao pé da mesa. Casponio já havia tomado outra folha de bambagina e escrevia ao alto:
"Appropinquante mundi termino..."
Ele ditou em continuação:
"... lego ao santo Prior a minha fazenda constituída pelos solares da Azenha e da Vacalhota, terras cultivadas, arribanas, servos e outros
animais, peças de ouro amoedadas e lavradas, estofos, tudo quanto algum valor represente, pelo que dou fé com público testemunho..."
Não sabendo ler nem escrever, ouviu a leitura do documento feita pelo Sabença. Mas foi Rabanete quem lhe traçou a assinatura. Depois passou-lhe a
pena, para que ele riscasse a cruz, o que foi feito com mão trêmula. Deixando a mesa, ele, como o fidalgo da Mostarda, também ficou assustado:
- E se o mundo não pegar fogo?
Uma voz consolou-o:
- Tanto melhor se não pegar fogo, ficaremos com a vida que Deus nos deu!
E o fidalgo saiu abrindo caminho à força. Durante toda a manhã foi aquilo. Os ricos iam levar ao Casponio o que era do mundo, isto é, aquilo que
nada podiam levar consigo. Só acabou quando os legados minguaram tanto de importância que a Troncha quis doar ao prior a horta, como o poço, o
balde, a roldana, a corda, a vara e o espantalho. Mas como essa fazenda não pagasse o preço da bambagina, Casponio deu por encerrada a sessão.
A notícia das doações correu logo de boca em boca. Por isso, quando o fidalgo da Azenha e o jogral chegaram ao castelo, encontraram-no quase
abandonado. Os homens de armas e as açafatas (que tinham nomes de flores) haviam debandado. Só encontraram meia dúzia de velhos servidores. Foi uma
dificuldade para erguer a ponte levadiça e lhes dar passagem.
O dia continuou frio e triste. Esmagado por sinistras expectativas, o burgo ficou silencioso. Não chovia, não ventava. O silêncio era angustioso.
Ao bater do meio dia, todos - mais do que então - se sentiram condenados à morte. Na torre do mosteiro, onde havia o relógio de pesos, o sino grande
começou a planger compassadamente. Cada vez que o ponteiro do relógio vencia um minuto, uma badalada imensa desprendia-se do bronze e rolava por
cima do burgo, dos vales, das serras.
A angústia ia adormecendo, adormecendo... Mas vinha a badalada e a alertava. Cada vez que Badalão, meio ébrio, puxava a corda, vinha aquele som e
revolvia toda as feridas. Dama Cereja, abandonada pelas aias, chorava no seu genuflexório. Rabanete, sozinho, sentado ao contrário de uma cadeira,
jogava bilboquê. Os velhos servidores, assustados, corriam de um lado para outro sem dizer palavra, sem ouvir a ninguém.
O senhor da Azenha teve esperanças de que o prior acabasse com aquelas badaladas, que tanto o afligiam. Mas o sino continuava. Não podia fazer
nada, não podia pensar em nada. Antes de esquecer-se completamente de uma badalada, lá vinha outra e o drama recomeçava. Sua capa negra voava pelo
ar, como a asa de um pássaro noturno.
Devia estar doente. Desceu à adega, bebeu quanto pôde, quis dormir, mas lá embaixo, entre paredes escuras, cobertas de botijas idosas e de teias
de aranha, o som do sino ia procurá-lo, ia amofiná-lo, ia enlouquecê-lo.
Ao cair da tarde, não conseguindo embebedar-se por causa do sino, chamou os servidores que haviam permanecido no castelo, conduziu-os a diversas
dependências, fez que os mesmos enchessem arcas com as baixelas, as joias, as barras de ouro, o dinheiro amoedado, tudo quanto representasse algum
valor.
Quando a coleta foi concluída, ele, a esposa, o jogral e os oito servos, vergados ao peso das canastras, desceram para a esplanada. Ia levar
aquela riqueza, para juntar às demais que havia legado, para salvação de sua alma. Mas, ao chegarem à esplanada, estacaram amedrontados. um frio
horrível enregelou-lhe o corpo e a alma. Seus dentes começaram a bater, a bater... porquê?
Porque lá no céu, no lado oposto àquele em que o astro desconhecido estendia a sua cauda de mau agouro, uma mancha preta, preta como tinta,
começava a alargar-se. Naturalmente era uma nuvem baixa, como tantas vezes acontece na mudança de tempo. Mas, àquela tarde, no estado de nervos em
que todos se encontravam, a mancha tomava a importância de uma calamidade. E a sombra preta, preta como tinta, continuou a alargar-se, a tomar
formas estranhas.
Meia hora depois, era como um buraco no céu. Um buraco que afundava, que alargava. Nos seus bordos, bocarras demoníacas devoravam o azul,
gárgulas vomitavam trevas. E, no meio da mancha escura, começaram a aparecer tons esverdeados, lívidos, ou broslados de sangue.
Dama Cereja ergueu os braços, desvairada:
- Seja o que for! Vamos para o mosteiro! Vamos entregar estas vaidades do mundo que tanto nos pesam na alma!
Referia-se aos ouros e alfaias. E lá foram. A ponte ficou arriada atrás de si. Já não temiam ladrões. Roubar para quê? Nas primeiras casas do
burgo, umas vozes assustadas chamaram-nos. Eles, que não queriam pecar por orgulho, atenderam ao apelo e foram ver do que se tratava. Era uma coisa
grotesca. A Broa do padeiro tinha ensandecido e, no seu desvario, acreditou-se gata. Como gata, entrara no forno e lá ficara a arranhar-se toda.
Quando alguém se lhe aproximava, ela se punha a miar e a rosnar como endemoniada. Muitos metiam a cabeça pela abertura e espiavam o fundo do forno.
Só viam dois olhos verdes, dilatados, fosforescentes, como de uma fera acuada, pronta a saltar sobre o perseguidor.
Saíram dali, perplexos. Mais adiante, onde surgiam as primeiras azinhagas, ouviram uns uivos lancinantes. Pensaram que fossem os cães dos
pastores; nos últimos dias estavam sendo caçados pelos famintos, que os matavam para comer. Mas não eram os cães. A primeira pessoa a quem
perguntaram ficou pasma de que ainda não soubessem da novidade e informou-os de que alcateias de lobos estavam descendo dos montes e atacando os
caminhantes das estradas. Já se falava de uma mulher estraçalhada para lá da Alcaçova e de uma criança que, na ausência da mãe, fora retirada da
choupana pelos lobos famintos.
A mancha negra, no céu, continuava a alargar-se. Já tinha comido metade do azul. Na outra metade, o alfanje de prata parecia segar as torres,
como se fossem papoulas. A população tinha convergido para o Campo dos Beneditinos.
Foi difícil atravessar aquela chusma. Quase todos os homens estavam ajoelhados sobre a neve. O sino tinha-se calado. Ninguém dizia palavra. O
silêncio era tão profundo que o tique-taque do relógio da torre começava a fazer-se audível.
Quando chegaram ao centro do largo, viram uma cena curiosa: ali estava parado um carro, com duas juntas de bois. Era um daqueles veículos em que
os camponeses transportam feno, mas estava fechado até em cima, por tábuas unidas, como para carregar coisas miúdas, em grande quantidade. Dois
velhos de samarra cor de folha seca e chapéu redondo de aba revirada pareciam os donos do carro. um deles estava ao pé da canga da frente a
apoiava-se no aguilhão fincado na neve. O outro permanecia sentado na traseira do carro e arengava a diversas pessoas boquiabertas à sua frente.
Dizia:
- Para subir ao céu é preciso ser mais leve do que a nuvem!
Depois, para que todos compreendessem:
- Quem disser: "esta folha de relva é minha", não alcançará o céu!
O senhor da Azenha parou diante dele e mostrou-lhe os servos com as canastras. O homem de samarra cor de folha seca fez um gesto e o fidalgo
mandou que os homens depusessem a carga dentro do carro. E isso foi feito. Outras pessoas que iam chegando fizeram o mesmo com sacos de ouro, prata
e pedras preciosas. Um vilão chegou com o avental cheio de moedas e atirou-as para dentro do carro. Depois explicou:
- Não são minhas, graças ao céu. São as peças que o Unhaça, roído de remorsos, atirou à rua. Só nelas toquei para juntá-las e trazê-las. Que Deus
não me faça cair os dedos...

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
26/11/1944 com o texto
VI - conclusão
No relógio da torre, o ponteiro grande enganchou no ponteiro pequeno, sobre as XII. E o
mundo...
A noite avançava. De minuto a minuto, o sino grande do mosteiro botava a boca no mundo. A população tinha tomado a nave e ali se comprimia, numa
atmosfera pesada, fumarenta, cheia de choros e gemidos. A maior parte, não cabendo naquele recinto, conservou-se na praça. Estava ajoelhada,
transida de frio e de medo.
No alto, a mancha negra, depois de comer todo o céu, parecia enroscar-se na cabeleira luminosa do astro desconhecido. Reinava um silêncio
cósmico, pontilhado, de minuto a minuto, pelas badaladas do sino. Badalão, o sacrista, entre uma badalada e outra, debruçava-se na órbita da torre.
Tinha barrete em forma de coador, com borla preta na ponta. Quando ele se inclinava sobre a chusma, a borla caía para a frente. Um dedo torto
apontou-o, uma voz rascante gritou:
- Lá está o Coisa Ruim!
Foi nessa ocasião que soaram as onze horas. Um sussurro percorreu a praça. Depois, restabeleceu-se o silêncio. Passou-se um tempo. As badaladas
continuaram a ouvir-se, regulares. Alguém reclamou:
- Parem com o sino!
Outros protestos se ergueram, mas o silêncio não voltou. Afligia. O senhor da Azenha sentiu necessidade de dizer alguma coisa. Voltou-se para
trás e perguntou ao truão:
- Que há de novo?
- Nada, compadre. Ah! É verdade... A Beringela enlouqueceu, botou fogo na cabana e atirou-se de ponta-cabeça no poço. O marido está a pescá-la
com um gancho.
Rabanete falava em voz baixa, mas o silêncio era tal que a praça ouviu as suas palavras. Uns persignaram-se, outros ergueram os braços, numa
súplica. E as badaladas continuaram, lentas e profundas. Aqui irrompiam soluços, ali estalavam gritos, acolá espocavam exclamações de horror. De
repente, para trás do mosteiro, ouviu-se uma gritaria. As sapatorras quebraram as poças geladas. Tropel, gritos e tudo desapareceu.
O senhor da Azenha perguntou à sua sombra:
- Que foi aquilo?
Rabanete informou-o:
- A Alcachofra saiu para a rua montada numa vassoura. Gritava à boca cheia que ia para o inferno, a ensinar o caminho aos que precisassem.
- E depois.
- A malta correu-lhe no encalço, apanhou-a, amarrou-a.
Passou-se um tempo que pareceu enorme. Do lado em que se dera aquela cena, ouviram-se discussões, gritos, risadas. "Logo a seguir,uma chama
alegre alçou-se na noite. O fidalgo voltou-se novamente par ao jogral e perguntou-lhe o que era aquilo. Rabanete continuava a saber tudo:
- Estão fazendo a serração da velha...
Dali a pouco, o ar cheirava a chifre queimado. Uma onda de pavor varreu a praça. Ouvia-se o sussurro ansioso das orações. Onde e cinquenta e
cinco. Passou uma badalada. Dali a um minuto, os ouvidos ansiosos esperavam a outra badalada, mas demorou, não veio. Esse fato tomou importância
arrasadora. Muitos gritaram:
- A badalada! A badalada!
O fidalgo voltou-se novamente e perguntou a Rabanete:
- Onde está Badalão?
E Rabanete, feliz por saber tudo:
- O sacrista enforcou-se na corda do sino!
Faltavam três minutos para a meia-noite de São Silvestre; no céu, o borrão de tinta preta tinha comido de todo o astro desconhecido. O silêncio
tornara-se de chumbo. Só se ouvia a arfagem da respiração de milhares de peitos. E, dominando tudo, o relógio da torre... Tique-taque...
Tique-taque...
- Falta só um minuto!
Tique-toque, tique-taque...
Uma mulher enlouqueceu; deu uma gargalhada nervosa que encheu a praça, que subiu ao céu. Quem seria?
Tique-taque, tique-taque...
Durante muitos minutos, a multidão esperou que o relógio batesse meia-noite, mas o ponteiro grande tinha enganchado no ponteiro pequeno,
precisamente sobre as XII: o relógio tinha parado. Então, todos se puseram a olhar para o céu. Nada de extraordinário. A massa negra de nuvens, que
aparecera ao entardecer e que, levada pelo aguilhão, tomara conta do céu, estava passando. Atrás dela ficava um céu azul, eterno, coruscante de
estrelas...
Um homem gritou, cheio de alegria:
- Nada!
Mil vozes acompanharam-no:
- Nada! Nada!
Repontaram diálogos. Espocaram gritos. Mais tarde, facécias e risadas. As primeiras pessoas começaram a retirar-se, tropeçando nos que, fatigados
pela espera, tinham adormecido. Apareceram archotes. O ar ficou cheirando a resina. Homens e mulheres puseram-se de pé, satisfeitos por estarem
vivos. Olhavam uns para os outros, à luz inquieta dos fogachos, e não sabiam que dizer. Rabanete pôs-se a beliscar a perna e a dar gritinhos
divertidos.
- Que fazes, truão? - perguntou o fidalgo.
- Estou a beliscar-me, para ter a certeza de que ainda vivo.
Os galos cantaram. Uma doçura infinita caiu do céu sobre os homens. Formaram-se grupos. Trocaram-se impressões. Lá para as bandas da Alcaçova, o
horizonte clareou. Muitos olharam para aquele lado. Mas não era nada alarmante. Apenas a alvorada. Uma alvorada serena, límpida, que nem parecia de
inverno. As últimas pessoas que permaneceram na praça encaminharam-se para o mosteiro e sentaram nos degraus da escadaria, debaixo dos arcos de
pedra. Estava-se tão bem ali.
O senhor da Azenha achou mais conveniente esperar que clareasse para não fazer na escuridão, agora que não dispunha de homens de armas, o caminho
do castelo. O mundo não havia acabado; era preciso temer os ladrões. Foi nesse ponto que o fidalgo se lembrou de uma coisa: estava pobre, ao
Deus-dará, sem eira, nem beira, nem ramo de figueira...
Esse pensamento inquietou-o. Ao amiudar dos galos, ele, a esposa e o bobo encaminharam-se para a Azenha. Rabanete ia à frente, erguendo um
archote surripiado não se sabe onde. Mas era inútil. Amanhecia. Sobre a Alcaçova, o horizonte se fazia escarlate; a luz começava a descer sobre as
serras, o burgo, os caminhos. A praça já estava quase deserta. O carro de bois, que tinha ficado ali para receber as ofertas de ricos homens e
vilões, pôs-se em movimento, não se sabe com que destino. Os homens graves de samarra cor de folha seca e chapéu redondo, de abas reviradas, não
tinham dormido; um, de aguilhão em punho, alertava a preguiça dos bois; outro, caminhando na traseira do carro, respondia de mau modo às perguntas
que lhe atiravam:
- Para onde levam o nosso tesouro?
- Para o outro lado da terra.
- Mais isso...
- Cala-te, pedaço de asno.
E o carro partiu. Ainda estava na esquina da praça, quando o senhor da Mostarda chegou esbaforido, engasgado de perguntas:
- E meus haveres? Que irão fazer com eles? Deixam-me assim arruinado, a pedir pão pelas portas?
Como ninguém lhe respondesse, começou a arrancar os cabelos, a atirar os chumaços de lã grisalha sobre a neve. Mas a cena mais comovente foi a
que se seguiu. Unhaça, o sovina, que havia atirado ao lixo os seus dobrões e que, mais tarde, viu um labrego juntá-los e trazê-los para o carro,
desembocou a correr de uma travessa. Tinha os cabelos em pé e os olhos esgazeados, para fora das órbitas.
- O meu sangue! O meu sangue! Ai que mo levam.
Não esperou resposta. Pôs-se a saltar como se tivesse uma víbora pendurada em cada pé. E erguia os braços. E invocava as potestades divinas.
Depois, alucinado, desandou a correr atrás do carro, guiando-se pelos sulcos que as rodas haviam cavado na neve.
O fidalgo da Azenha, a esposa e o bobo, prosseguiram no caminho. Amanhecia. Do céu caía uma claridade rósea, incrivelmente fosca, que tornava
róseas toda as coisas em que tocava. A neve parecia embebida em aguapé. Os montes, os castelos, as torres, as árvores secas, o casario do burgo,
tudo aquilo parecia pintado de róseo. E o céu era róseo. E o ar era róseo. E os homens e os animais pareciam ter saído de um banho de rosas.
Passando pela fonte, viram a Bitabita sentada numa pedra, mimando duas cabras. O fidalgo perguntou-lhe:
- Onde estão as outras?
- Nós as comemos. Agora vou recomeçar.
E a mulher parecia desanimada, diante da continuação do mundo.
Logo adiante, toparam o Patusco, que vinha de enxada ao ombro:
- Coveiro, tu voltas à lida?
- Que fazer? Tratemos da morte que a vida é certa!
Debaixo de uma carvalheira sem folhas, onde a neve cor-de-rosa se acumulava sobre os galhos negros, encontraram o Lanzudo. O pastor estava
sentado junto ao tronco da árvore. Tinha o cão ao lado e assoprava numa flauta de canafístula.
- Que fazes, Lanzudo?
- Estou reunindo o que resta do rebanho. Depois, irei para o monte, a ver se ainda encontro, entre as pedras, algumas ramas de tojo, que resistem
ao inverno.
Já na falda do outeiro,havia um muro caído. Pelo vão das pedras soltas, viram um recanto daquilo que devia ser horta. Lá estava a Troncha atolada
no estrume, a boca cheia de pragas.
- Trabalha, mulher!
- Vossas mercês não queriam a vida? Pois a vida é isto!
E, para mostrar o que era a vida, ainda se atolava mais no esterco.
A encosta do castelo era coberta de velhas árvores. Quando os três caminhantes lá chegaram, ouviram gritos e risadas. A princípio não
distinguiram viva alma. Depois, encontraram três pares de namorados, a agredir-se com punhados de neve. Tinham passado a noite ali. Nem se haviam
precatado do fim do mundo. E a vida continuava...
Afinal, chegaram ao castelo. Os velhos servidores já lá estavam a esperá-los sobre a ponte levadiça. Entrando, o ex-senhor da Azenha e da
Vacalhota suspirou e disse:
- Cá estamos. Cá ficaremos até que nos venham botar no olho da rua. Então, cada um irá para seu lado.
O fidalgo entrou e subiu à torre do poente. Lá chegando, debruçou-se sobre o burgo e os vales. Era como se, sobre a terra, durante a noite,
tivesse caído uma tempestade de pétalas de rosas, até as estradas que fugiam para longe, batidas pela luz da manhã, lembravam fitas cor-de-rosa
sobre a neve cor-de-rosa.
Entre dois pinheiros mortos, viu o carro de bois que, pesado de ouros e alfaias, fugia para o horizonte. Nas outras estradas, de outras aldeias,
outros carros de bois iguais àquele fugiam, também, para o desconhecido. Havia carros semelhantes em todas as estradas; e, naquele tempo, todas as
estradas conduziam a Roma. |