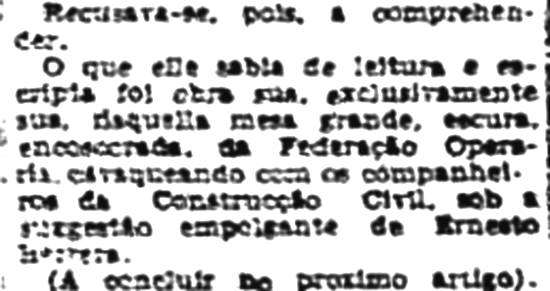|

Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria
Sylvio Floreal
A revista da Academia Paulista de Letras, em um
de seus últimos números, reproduziu ligeira crônica escrita há muito tempo e na qual fixei aspectos da vida de Sylvio Floreal.
Aos que se interessarem pela odisseia do atribulado escritor, um dos poucos que entre nós não adotaram como ganha-pão a carreira jornalística,
ofereço a referida crônica acrescida de outras lembranças que me foram caindo do bico da pena...
Ali por 1910, se não me falha a memória, agonizava em Santos um jornal chamado
A Vanguarda, fundado por Benjamin Motta, e que na sua efêmera existência chegou a
alcançar dias de popularidade. A redação e a oficina estavam instaladas num velho e baixo
prédio da Praça dos Andradas e o último proprietário e
redator-chefe era um senhor português, do comércio, que, mais tarde, extinto o jornal, retirou-se para Lisboa, à Rua dos Retrozeiros.
Nesse jornal eu desempenhava as elásticas funções de redator "faz-tudo". Tinha casa, comida, roupa
lavada e, aos domingos, uma notinha nova, de 5$000, para a farra. Para a farra, era assim que ele dizia. Mas naquele tempo, tempo da "mina", das
"vacas gordas", as notas de 500$000 andavam aos pontapés pela Rua 15 de Novembro e eu, com a migalha que me cabia na partilha do mundo, não me
atrevia a nada, absolutamente nada. Daí a fama de circunspecção e sisudez que me perseguiu durante a mocidade.
Mas, afinal, não tenho queixa do Magalhães - era assim que ele se chamava. Compreendo hoje
que era regiamente pago por um trabalho incerto, feito entre compridas leituras e conversas fiadas que duravam boa parte da noite, com
Fábio Montenegro, Custódio Pereira de Carvalho, Zózimo Lima e outros
frequentadores da casa. Não raro, Quintino de Macedo, esquelético, de muletas, com um chapeuzinho de criança no alto da cabeça, lá aparecia também.
Francamente, não sei como o Magalhães me aturou durante tantos meses...
À noite, escrevendo numa mesinha que ficava ao pé da porta, era eu a pessoa indicada para
atender ao escasso público que procurava a redação. Diante de mim, estendia-se a praça com as suas árvores centenárias e os lagos esquecidos,
coalhados de ninféias. Em certo dia da semana, havia música no jardim: as moças da redondeza passeavam na calçada e os rapazes conversavam em
grupos, mais atentos às namoradas do que às palavras que diziam.
Em tais horas, eu olhava para o noticiário inteirinho por fazer e sentia uma inveja surda daquela
gente feliz, que vivia alegremente a sua vida. Isso nas noites em que havia retreta; nas outras, porém, enquanto o jornal trabalhava, o jardim se
povoava de líricas rãs que dialogavam no silêncio. Num boteco da Rua São Leopoldo, funcionava incessantemente aquele gramofone que só contava um
disco e assim mesmo rachado: rakt, rakt, rakt...
"M'nina, vamos ao vira,
Ai,
Que o vira dá viração..."
Lá pelas 10 horas da noite, naturalmente, depois da reunião do "conselho diretivo", um rapazola da
Federação Operária, que ficava ali por perto, ia ao jornal levar o comunicado para o dia seguinte. Não lembro precisamente a data do nosso
conhecimento, mas, desde o primeiro encontro ele se havia mostrado de uma intimidade tocante. Era Fulano p'ra cá, Sicrano p'ra lá....
Tinha as mãos grossas, duras e comidas pela cal. Vestia calças de riscado e um largo paletó
castanho que quase lhe chegava aos joelhos. Não raro, quando gesticulava, as mangas engoliam as mãos. Além do mais, era dentuço. Tinha a profissão
de servente de pedreiro, redigia os manifestos da Federação Operária e pretendia conhecer todos os autores nacionais e estrangeiros. Sua memória era
alarmante. Citava de cor páginas inteiras de Vargas Villa, Mário Mariani, Octavio Mirbeau, Maximo Gorki... Ele próprio falava num estilo imaginoso,
com paradoxos rebarbativos, com afirmações escandalosas, para em seguida saborear na fisionomia do ouvinte o efeito que as palavras produziam.
Só algum tempo depois cheguei a saber o nome desse amigo íntimo; era um nome tão comum que
logo depois esqueci. Domingos Alexandre. Não tinha sobrenome. Mas ele, que era literato até a medula dos ossos, escolhera um vistoso, um esplêndido
pseudônimo para tais ocasiões: Sylvio Floreal! Devia ser filho espiritual de Ernesto Herrera, um vagabundo de gênio.
Esse Ernesto Herrera, que no Brasil poucos conhecem, era um jovem escritor uruguaio, boêmio como
um gato. Aqui chegou como passageiro clandestino de um vapor inglês. Enquanto entre nós esteve, viveu pelos sindicatos, sempre a escrever peças
teatrais, "La Moral de Mísia Paca", ou "El Lion Ciego". Não tinha a menor preocupação com a roupa nem com a comida. Uma vez convidei-o
para almoçar: aceitou. No mesmo dia convidei-o para jantar e ele recusou terminantemente.
Por quê? Porque não desejava habituar-se a almoçar e jantar todos os dias...
Certo domingo, sem despedir-se, partiu para o Uruguai, como havia chegado: passageiro
clandestino, nos porões de um tramp (N.E.: navio que não cumpre linha regular).
Ernesto Herrera aqui deixou, com a fascinação de seu exemplo, uma dúzia de escritores desse naipe.
Soube depois que ele, regressando à pátria, fez-se professor público e morreu tuberculoso numa terça-feira de Carnaval. Seu nome hoje, no Uruguai, é
contado entre os de maior brilho e suas peças, ao lado das de Florêncio Sanchez, enriquecem o patrimônio espiritual do teatro daquele país.
Sylvio Floreal escrevia fabulosamente. Não havia papel que chegasse. Li os seus primeiros
escritos, a lápis, em papel de embrulho. Na rua, anotava frases - as suas frases memoráveis - nas margens estreitas dos jornais, caprichosamente
recortadas. A caligrafia não passava de garranchos de menino de escola. A falar verdade, se teve algum estudo foi muito pouco, talvez a Cartilha
e os cadernos Garnier, nalguma escolinha do Jurubatuba, onde o pai trabalhava em bananal. Nada mais.
Ribeiro Couto, uma vez, aconselhou-o:
- Sylvio Floreal, você precisa de escola...
Ao que ele respondeu, com a convicção de um Flaubert:
- Eu tenho a minha escola.
Recusava-se, pois, a compreender.
O que ele sabia de leitura e escrita foi obra sua, exclusivamente sua, naquela mesa grande,
escura, encoscorada, da Federação Operária, cavaqueando com os companheiros da Construção Civil, sob a sugestão empolgante de Ernesto Herrera.
(A concluir no próximo artigo)
Affonso Schmidt
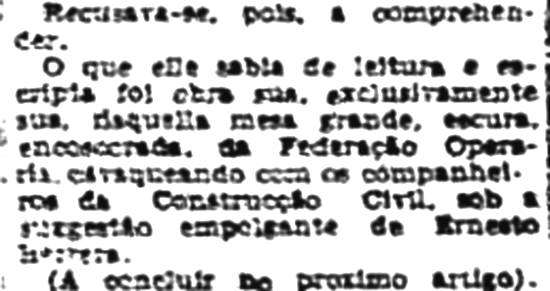
Imagem: reprodução parcial da pagina com a matéria |