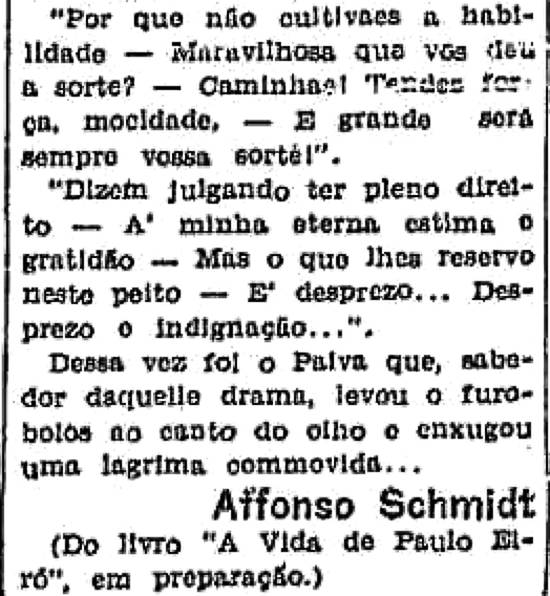No ano de 1855, a noite de São Paulo teve um encanto muito particular. Além desses divertimentos tradicionais, registrava-se a
estreia do teatrinho de Paulo Eiró. A casa da Rua Direita estava iluminada. Entre as largas portas via-se uma grande lanterna, feita pelo Paiva, na
qual os vidros haviam sido substituídos por papel de cor, apresentando este letreiro: "Teatro". Dentro do salão, outras lanternas mantinham o
ambiente numa claridade discreta. Os bancos da escola estavam alinhados diante do palco. Correntes coloridas, feitas de papel de seda, riscavam o
teto baixo.
Diante da escola reunia-se muita gente, espiando com curiosidade para dentro e comentando os preparativos. Os amadores entravam
e saíam apressados, discutindo entre si. O Paiva dava ordens. Nhá Trindinha, sentada à porta,informava o público. A récita, como era de praxe
naquele tempo, estava anunciada para as 8 horas. Ali pelas 7 e meia, houve um rebuliço na vila. É que a banda de música, constituída por meia
dúzia de figuras, saiu da sua sede, na Ruazinha, atravessou o Largo da Igreja e entrou pela Rua Direita, tocando um dobrado. A massa de curiosos
acompanhou-a. Moleques descalços dançavam à frente do maestro que, de quando em quando, virava-se para rás e, com um lacinho de fita cor-de-rosa na
ponta da batuta, marcava o compasso. Chegando ao teatro, parou; a rua tornou-se dura de gente.
Por essa ocasião, começaram a chegar os convidados. Eram os figurões da vila: camaristas, negociantes pessoas vindas de longe,
especialmente para assistirem a récita de estreia. Nos mourões das esquinas, viam-se animais amarrados diante dos molhos de capim. De quando em
quando, um trole parava diante da lanterna de cores e dele desciam homens de robição, calças de ganga amarela, chapéu alto de abas reviradas;
mulheres de mantilha, xales de longas franjas. As meninas traziam puçá no alto do penteado. Outras ainda estadeavam pentes monumentais, argolas de
ouro nas orelhas, leques brancos, de plumas, com varetas de madrepérola. Essa gente entrava a rir, com uma viva curiosidade nos olhos escuros,
pestanudos, e ia se acomodar nos bancos.
O povo apinhado na rua os conhecia a todos:
- Os Rudges, do Morumbi!
Logo depois:
- O dr. João Ribeiro da Silva, da chácara do caminho de São Paulo!
Os cumprimentos de banco para banco não tinham fim. Uns rapazolas viajados faziam pouco do teatrinho. E os chegados da capital
contavam façanhas das últimas "troupes" portuguesas, espanholas e até francesas que faziam temporadas no São José. Aquilo sim, é que era
teatro.
Dentro de alguns minutos a plateia estava repleta. Os retardatários ficaram de pé nos cantos, forçando os últimos bancos.
Diante das portas, penetrando timidamente pela sala, comprimia-se o povo inumerável que abandonava as fogueiras, as canecas de quentão, os busca-pés
e corria para a novidade do teatro.
Pouco depois das 8 horas, ergueu-se um murmúrio da assistência. Uns "polcas", descontentes, começaram a bater com os tacões no
soalho. Foi então que as cortinas do palco se moveram e apareceu o Paiva, de sobrecasaca, calça branca e gravata de seda preta, de três voltas,
contornando colarinhos alvos de asas muito abertas, pastinha lambida que descia de viés pela testa e tocava a sobrancelha do olho direito.
Agradeceu a presença de tão distinta assistência, pediu antecipadas desculpas pelas falhas que pudessem ser observadas, pois
era uma tentativa de rapazes, sem outro intuito que o de fazer um pouco de arte, num meio onde infelizmente tudo faltava. E, finalizando, anunciou
que o pano ia subir (força de expressão do moço da Corte) para a representação da comédia que abria o programa. Era o Conde de Paragará. Dito
isso, inclinou-se numa vênia e sumiu entre as colchas adamascadas, enquanto as palmas reboavam pelo salão.
De fato, dali a pouco ouviram-se as pancadas regulamentares de um bastão sobre o tablado e, a seguir, o pano de boca se abriu,
mostrando a cena onde os atores se moviam atirando ao público, com um certo nervosismo, as primeiras frases da comédia.
Caracterizados como eles estavam, os espectadores não os reconheceram imediatamente. No entanto, com o desenrolar da comédia,
foram se denunciando. Era o João Alberto de Oliveira Prado, filho de nhá Caridade, neto de Chagas pelo primeiro casamento; o Firmino Guerra, neto de
José Antonio da Guerra, das suas primeiras núpcias com Maria Antonia, uma das moças do sobrado; o Francisco Pires de Oliveira,homem de certo
preparo; Lucas irmão de Paulo Eiró... Este era tão distraído que uma noite, lendo à luz da vela, esqueceu de se descobrir e só deu por isso quando a
aba do chapéu pegou fogo.
O papel de criada era desempenhado pelo Paiva que, com suas facécias (naquele tempo dizia-se micagens) arrancou gostosas
gargalhadas da plateia. Quando apareceu a ingênua da peça, por nome Adelaide, houve um sussurro no salão. Quem seria aquela moça? É Fulana! É
Sicrana! Foi quando da porta alguém gritou:
- Olha o Pedro Forster vestido de mulher!
Foi o êxito da representação.
Depois de um longo intervalo em que o público confraternizou entre os bancos da plateia, trocando impressões, falando de
assuntos familiares, ou ainda fazendo prognósticos sobre as peças seguintes, o Paiva apareceu no proscênio e anunciou a peça que ia se seguir:
Sganarello, uma tragicomédia.
Logo depois, as cortinas se abriram e, enquanto o público acorria apressado para os seus lugares, começou a representação. Como
na peça anterior, o João Alberto de Oliveira Prado tinha o papel central. Viam-se mais: Pedro Hennickel, Antonio Manuel da Silva Guerra...
Quando ele apareceu em cena, alguém gritou da porta:
- Olha o Antoninho Pato!
O amador, atrapalhado com o diálogo, perdeu a deixa e fulminou a plateia com um olhar feroz.
Ainda outras figuras novas tomaram parte no desempenho da peça. Entre essas figuras, Paulo Eiró. Sentia-se perfeitamente a luta
entre a sua timidez natural e a necessidade e representar aquele papel. A peça prosseguia sem novidade. O poeta, com a simpatia do público amigo,
foi-se tornando senhor do tablado e, dentro de pouco, discorria com facilidade e brilho, prometendo tornar-se dali por diante a figura principal do
elenco. Foi quando na plateia se ouviu o zum-zum da chegada de novos espectadores. Ele, de pé na ribalta, falava, falava...
Percebendo esse movimento na sala, olhou para baixo e assustou-se ao ver o público com os olhos fitos na sua pessoa. Sentiu uma
espécie de vertigem. No meio da perturbação, viu nhá Cherú, seu marido Gabriel Galdino Branco e a Musa. Esta última vinha um pouco atrás e a sua
figura deslumbrou-o. Depois de verificar que todos os lugares estavam tomados, a jovem teve a intenção de retroceder e certamente o faria se o Juca
- um primo dela e de Paulo Eiró - não se apressasse em oferecer-lhe a sua pontinha de banco, enquanto nhá Cherú e o marido acomodavam-se na outra
extremidade do salão.
Paulo Eiró esqueceu-se da comédia e passou a observá-los. Durante toda a representação a Musa e o primo não fizeram mais do que
conversar, por trás do leque de plumas, alheios ao que se passava no palco. E, lá em cima, o poeta parecia mais interessado nessa conversa do que
nas frases que lhe soprava o ponto. Daí, o pouco êxito da interpretação que o amador novato imprimiu ao seu papel.
Quando apareceram Conceição e Laura, nos dois papéis femininos, o público não acreditou que fossem de fato duas moças e levou
minutos a adivinhar quem eram aqueles rapazes que tão bem representavam de damas.
Logo depois, o pano se uniu sobre a última cena de Sganarello e as palmas estrugiram. Os amadores apareceram na ribalta,
colhendo os triunfos. Menos um, Paulo Eiró. Foram encontrá-lo à beira dos trainéis, chorando convulsivamente. E nessa noite não fez outra coisa
senão chorar.
O programa terminou com o sainete Caipira logrado, representado por Proença, Julio Guerra, um moço que anos depois
deveria morrer heroicamente no Paraguai, e outros já conhecidos do público. Era uma peça escrita exclusivamente para rir. Mas o melhor não estava
escrito. Foi quando o Antoninho Pato reparou que o Pedro Hennickel, seu compadre, estava com a vista da calça desabotoada. E, interrompendo o papel,
como se nada fosse, enxertou:
- Entre parêntesis, compadre, abotoe as calças...
O espetáculo findou com o maio êxito que se poderia esperar. Quando o público saía, conversando e rindo, Paulo Eiró encontrou
de cara com o primo Juca, que estava debaixo da lanterna, à espera da Musa. Quis dizer-lhe alguma coisa, mas não conseguiu. Um conhecido conduziu-o
pelo braço, consolando-o:
- Vós não precisais dela. Por que não cultivais a habilidade que vos deu a sorte? Sois moço, belo, genial e o vosso destino
será esplêndido...
Paulo Eiró olhou-o tristemente e voltou para o salão, já deserto àquela hora.
José, o escravo, apagou as luzes, fechou a casa e ao sair perguntou ao poeta;
- Nhozinho, não vai-se embora?
- Não, José. Eu fico.
Foi para a mesa que havia sido exilada num canto, acendeu a vela e se pôs a escrever com mão nervosa. Cerca de uma hora da
madrugada, o Paiva, que tinha andado a correr coxia, passou pela escola, viu a porta apenas cerrada e luz na sala. Entrou pé ante pé, para ver quem
lá estava. Eiró não se apercebeu da sua aproximação. Continuou a escrever. Então, o Paiva debruçou-se sobre o seu ombro e pôde ver o que ele estava
escrevendo. Era a poesia Hypocritas!. Aquelas estrofes de tinta ainda molhada diziam:
"Por que não cultivais a habilidade - Maravilhosa que vos deu a sorte? - Caminhai! Tendes força, mocidade, - E grande será
sempre vossa sorte!".
"Dizem julgando ter pleno direito - À minha eterna estima e gratidão - Mas o que lhes reservo neste peito - É desprezo...
Desprezo e indignação..."
Dessa vez foi o Paiva que, sabedor daquele drama, levou o fura-bolos ao canto do olho e enxugou uma lágrima comovida...