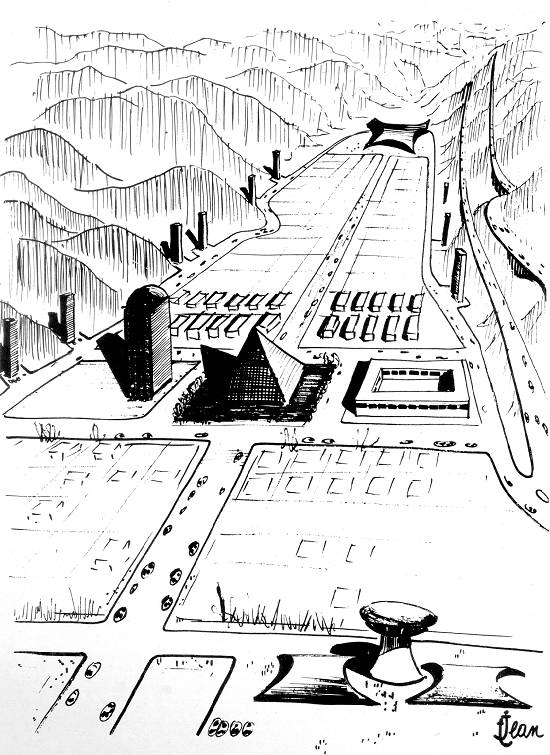 Ilustração:
Jean Luciano
Com
o desenvolvimento das máquinas, muitos animais que tanto auxiliaram
o homem no seu progresso estão destinados a desaparecer. Esta observação
que não é nova pode ser comprovada na vida pacata e comum
do Zanzalá. Bois e vacas ainda são encontrados em pequeno
número nos estábulos do distrito, embora a maior parte do
leite consumido seja vegetal. Os cães, empregados em diversos serviços,
também aparecem. Pode mesmo dizer-se que, nas noites de lua-cheia,
as pessoas insones ainda ouvem pela rua o escandaloso namoro dos gatos.
Mas, os eqüinos, os caprinos e os ovinos só podem ser vistos
nas páginas da Enciclopédia, ou nas avenidas do Jardim Zoológico.
Ilustração:
Jean Luciano
Com
o desenvolvimento das máquinas, muitos animais que tanto auxiliaram
o homem no seu progresso estão destinados a desaparecer. Esta observação
que não é nova pode ser comprovada na vida pacata e comum
do Zanzalá. Bois e vacas ainda são encontrados em pequeno
número nos estábulos do distrito, embora a maior parte do
leite consumido seja vegetal. Os cães, empregados em diversos serviços,
também aparecem. Pode mesmo dizer-se que, nas noites de lua-cheia,
as pessoas insones ainda ouvem pela rua o escandaloso namoro dos gatos.
Mas, os eqüinos, os caprinos e os ovinos só podem ser vistos
nas páginas da Enciclopédia, ou nas avenidas do Jardim Zoológico.
Este jardim,
que fica próximo dos Areais, é muito visitado, principalmente
nos dias de festa. Professores param diante daqueles bichos, um tanto ariscos,
e explicam coisas interessantes a crianças de olhos arregalados:
- Vocês
precisam amar e respeitar os animais. Eles representam importante papel
na história do homem, notadamente do homem da América. Nos
primeiros séculos da nossa civilização, o transporte
terrestre era feito com auxílio dos animais. Ali está aquele
cavalinho cor de pinhão...
- O Guaicuru!
- Todas as
crianças conhecem o cavalinho do Jardim Zoológico.
E o professor
continuava:
- ...sim, o
Guaicuru. Ele é descendente de uma nobre estirpe. As estradas eram
vencidas nos lombos dos cavalos. Depois, vieram os banguês, os diversos
carros urbanos, os veículos de transporte de mercadorias. Houve
tempo em que o Brasil produziu dois terços do café consumido
no mundo. Esse café era acondicionado em sacos de aniagem e transportado
dos armazéns para os navios em carretões puxados por animais
desta espécie. Um dia, surgiram carros grandes que trafegavam sobre
fitas de aço e aos quais os nossos antepassados chamavam de "bondes".
Os primitivos bondes eram também puxados por animais. Os exércitos
de todos os países utilizavam milhares e milhares e de cavalos para
o transporte dos víveres e para os combates. Mas não devemos
esquecer o auxílio grandioso que nos prestaram os bois. O primeiro
progresso de São Paulo passou por aqui, pelo Zanzalá, arrastado
por parelhas de bovinos; os primeiros engenhos, caldeiras de vapor, dínamos
elétricos e outras máquinas subiram a serra em pesados e
lentos carros-de-bois, daqueles que ainda se encontram nos museus. Foi
só quando a eletricidade, o vapor e o motor de explosão se
adaptaram às necessidades do transporte que o animal desapareceu.
Imaginem vocês que por aquele tempo já havia cidades, como
Londres, com seis milhões de habitantes. Seria curioso saber como
viviam e eram tratados os incontáveis cavalos utilizados nos transportes
urbanos, públicos ou particulares correspondentes às necessidades
dessa formidável população. Felizmente, a máquina
substituiu a tração animada. Os carros elétricos libertaram
milhões de burros; os automóveis, caminhões e aeroplanos
libertaram os restantes. E, com o correr dos anos, os eqüinos foram
desaparecendo, a ponto de os governos terem de recolher exemplares nos
museus para que a humanidade não perdesse de vista os seus velhos
amigos. Com as ovelhas, deu-se quase a mesma coisa. Nossos avós
utilizavam a lã dos carneiros para tecer as suas pesadas vestes;
utilizavam a sua pele para numerosos artefatos e até mesmo a carne...
-A carne?
- Sim, a carne
para alimentação. Nossos antepassados, na sua maioria, alimentavam-se
de cadáveres de animais...
- Os índios?
- Os índios
e os civilizados.
Aquele cavalinho
chamado Guaicuru era o encanto da molecada do Zanzalá. Na mangedoura,
havia sempre milho, mas os seus amiguinhos não deixavam de levar-lhe
braçadas de capim cortado na beira dos córregos. O Guaicuru,
por seu lado, tinha um fraco pelas crianças e pela erva fresca que
elas lhe levavam. Era um animal muito inteligente. Contavam-se anedotas
a seu respeito. Uma canção popular, daquelas que nasciam,
floresciam e morriam pelas ruas, espontâneas como o lírio
do brejo, cantava a doçura melancólica do bicho aposentado.
Imagine-se,
pois, o barulho que fez em todo o distrito esta novidade que, certa manhã,
andou de boca em boca:
- Raptaram
o Guaicuru!
- Foi um sucesso.
Grupos de meninos correram logo para o Jardim Zoológico e ficaram
pasmados diante do que viram. As cercas de arame haviam sido cortadas com
alicate e o animal retirado da cocheira de sapé, onde habitualmente
passava horas com o focinho mergulhado na mangedoura, mastigando o penso.
Seu rasto podia ser seguido até a avenida Jabaquara, depois desaparecia
no asfalto negro e luzente. Aonde teriam levado o pobre bicho e para quê?
Quando a notícia chegou à Escola Municipal, foi um corre-corre,
um diz-que-diz-que... Naquele dia, todas as tarefas ficaram em meio, por
mais que os professores se esforçassem em manter a criançada
em ordem.
À tarde,
as ruas e praças de Zanzalá regurgitavam.
Não
se falava de outra coisa.
Uma mulher
subiu numa pedra e gritou:
- Foram os
caborés!
Os circunstantes
acharam que a mulher tinha razão. E desde aquele momento, quando
se falava no Guaicuru, havia sempre alguém que ficava indignado
e repetia a terrível frase: - Foram os caborés!
Caboré
quer dizer homem do mato. Mas, no Zanzalá, ali pelo ano de 2029,
quando se falava em caboré, toda gente emprestava a essa palavra
um significado particular. Aqui há lugar para uma explicação.
No século anterior, antes de ser suspensa a migração
de europeus, tinha-se registrado um fenômeno interessante. Alguns
desses povos, nascidos e educados num ambiente de inquietações
políticas e guerras, orientados por uma filosofia desumana, se haviam
tornado inadaptáveis à vida de trabalho e de concórdia
que é tão própria da América. Onde eles estavam
surgia logo uma questão, muitas vezes um conflito.
A Europa -
embora hoje não pareça - já foi um continente civilizado.
As ruínas que ainda lá podem ser vistas dão idéia
do seu antigo esplendor. Como se sabe, a rápida decadência
começou em 1914 e acentou-se com as guerras que se sucederam. Em
1950, era um montão de ruínas fumegantes. Daí para
cá, ficou sendo uma espécie de museu em ponto grande, onde
os estudantes de outros continentes vão veranear todos os anos e
consultar os arquivos. Hoje, a Europa vive das glórias do passado.
Nas conversas, os europeus falam com voz tremida de descobridores, de poetas
e de filósofos. Mas tudo isso passou, está perdido na distância.
Só resta um povo envenenado, inadaptável, que a América
e a África recebem com justificada reserva...
Essa gente
era encontrada em grande número no litoral, mas a sua atitude tornou-a
há muitos anos mal vista nos centros populosos. Por isso, ela isolava-se
em povoações perdidas nas dobras da Serra do Mar. Homem civilizado
não tinha comércio com europeu. No entanto - e isso era muito
da sua conduta - alguns caborés arriscavam-se em freqüentes
incursões nos distritos mais próximos, fazendo valer armas
que ainda eram a sua preocupação, apesar de a humanidade
ter evoluído muito no cumprimento do Sermão da Montanha.
O núcleo
de caborés mais próximo do Zanzalá chama-se Assunguí
e fica entre Piassagüera e o braço do mar, num recanto inutilmente
defendido por poderosas máquinas de matar gente. A aldeia está
situada à margem de um desses riachos de água vermelha que
cortam as praias e se lançam no mar. Daí, talvez, o seu nome,
que significa rio do sangue.
No Assunguí,
vive uma tribo de homens que, depois de alcançarem a civilização,
regrediram à barbárie. Moram em sobrados de pedra ou cimento
armado, numas gavetas a que se chamam de apartamentos. Governam-se por
uma rígida hierarquia, cheia de complicações e mesuras.
Exercitam-se no tiro-ao-alvo e dedicam-se ao jogo de paciência de
amealhar rodelinhas de ouro, como os seus ancestrais. São, portanto,
anticristãos. O motivo do seu afastamento da vida comum é
o apego que têm pelas formas arcaicas, a intolerância, o desejo
sempre presente de dar à vida americana formas antiquadas, numa
clamorosa incompreensão das belezas da simplicidade.
Freqüentemente,
os caborés apresentam-se em grupos de três ou quatro no vale
do Zanzalá. Quando aparecem mais numerosos, os homens são
prevenidos, deixam o trabalho e vão obrigá-los a se dispersarem
pelo distrito. Sua presença é sempre recebida com certo receio.
É que alardeiam idéias e vícios que a América
já deixou muito para trás, no seu progresso. São altos,
escarlates, e usam na cabeça umas cápsulas de feltro a que
chamam de chapéu, e que muito divertem as crianças. Os cabelos
são compridos e a longa barba ruiva chega à altura do umbigo.
Usam também roupas grossas e coloridas, de difícil higiene.
Quase todos calçam uns canudos de couro para proteger-lhes as pernas,
sobre sapatos igualmente de couro. Fumam cachimbo, desmandam-se em bebidas
feitas com cereais apodrecidos e muitos deles são carnívoros.
Há até no seu meio, segundo se afirma em voz baixa, os antropófagos.
Mas, isso deve ser lenda. Em todo caso, aí fica a versão...
Não
fazem camaradagem com os habitantes do Zanzalá. Chegam, passeiam,
escarnecem das mulheres e crianças que encontram no caminho e, em
caindo a tarde, quando os homens voltam do trabalho, tomam cautamente a
estrada do Assunguí. São assim os caborés.
Levantada a
suspeita de que o Guaicuru fora raptado pelos caborés, alguns homens
lembraram-se de que, na véspera, um grupo deles andara pelo vale
e ninguém os vira tomar a estrada do reduto. Havia, pois, motivos
para atribuir-lhes o fato que alarmava a população do distrito.
Discutiu-se muito a tal respeito. E, depois de ouvidos os habitantes de
Piassagüera, que não tinham visto os caborés regressarem
ao Assunguí, ficou estabelecido com segurança que eles, depois
de haverem arrombado o jardim e raptado o cavalo, ter-se-iam escondido
em alguma dobra da serra, com sinistros intuitos. Tal convicção
generalizou-se. Então, grupos de rapazes e moças tomaram
a si a incumbência de procurar os bárbaros e - se ainda fosse
tempo - retirar-lhes das garras o pobrezinho do Guaicuru. O rádio
botou a boca no mundo. Um apelo insistente convidava a população
de todos os recantos a denunciar a passagem dos raptores e de sua presa.
Até ao anoitecer, os alto-falantes atroaram os costões azulados
da serra. Nada de novo, porém.
Tuca e Zéfiro
corriam de um lado para outro, verdadeiramente interessados na sorte do
animal. Só conseguiram jantar muito tarde e, assim mesmo, a moça
permaneceu abstrata durante a refeição. De quando em quando,
sem conformar-se, exclamava:
- Estou com
pena do Guaicuru!
Veio a noite.
Pelas ruas e praças, ajuntou-se muita gente. De quando em quando,
uma voz elevava-se e malsinava os caborés. Sentia-se em toda a população
um agudo nervosismo.
Lá pela
terceira hora da noite, um moleque qualquer, brincando na avenida que contorna
o lago, apontou de repente as bandas do Monge e mostrou aos cirunstantes
um fio de fumo que subia da parte negra da serra e se perdia no ar parado
da noite de luar, clara como o dia. Todos tiveram a mesma idéia:
- Lá
estão os caborés!
A descoberta
circulou rapidamente pela povoação e, dentro de pouco, uma
gente alegre dirigiu-se para as bandas de cima, em busca do lugar assinalado
pelo fio de fumaça. A avenida Jabaquara encheu-se logo de homens,
mulheres e crianças e todos se puseram a correr com o mesmo destino.
Queriam saber o que os caborés estavam fazendo do cavalo. Mas o
sítio em que eles se encontravam, se de fato eram eles, devia ser
muito distante. Já no fim da avenida Jabaquara, escalaram as escarpas
e tomaram por estradas, depois por caminhos, por trilhos, por picadas E
chegaram ao mato. Talvez o último reduto de floresta da serra de
Paranapiacaba. O luar prateava as copas, mas não descia até
ao chão. Por isso, aquela gente, ansiosa e disposta a ir até
ao fim, aceitou como guias os que naturalmente já haviam passado
por ali mais de uma vez. Entre esses homens estava Zéfiro. Seguia
na frente, abrindo caminho com os braços; atrás dele, enroscando-se
nos cipós, tropeçando nas pedras soltas, escorregando no
limo dos desfiladeiros, caminhavam homens e mulheres. Ouviam-se gritos,
pragas e, de quando em quando, cristalinas risadas.
Entraram num
caminho velho entre barrancos altos.
Zéfiro
parou e sisse:
- Estamos na
estrada das Caveiras.
Uma mulher
das que o acompanhavam exaltou-se.
- Por que tem
ela esse nome?
Destacou-se
da treva um homem grave que conhecia a história da região
e falou:
- Eu sei porque.
Vou contar-lhe. Ali por mil oitocentos e trinta e tantos existia lá
longe, no chamado Cubatão-de-Cima, um engenho de cana pertencente
a dona Josefa Ferreira Bueno que ali vivia, em companhia de duas filhas
moças e alguns escravos. Essa senhora de engenho parece que não
poupava os seus pretos. E tanto fez que, uma tarde, eles se revoltaram.
Cheios de cólera, abandonaram a senzala e entraram de roldão
pela casa grande, prenderam dona Josefa e começaram a torturá-la.
Uma das filhas, meio enlouquecida, tomou o caminho de São Vicente,
distante algumas léguas, e saiu a correr em busca de auxílio.
A outra trepou no fogão e com grande esforço conseguiu esconder-se
entre os jacás de toucinho atravessados no fumeiro, onde ficou muito
tempo, escapando da cólera dos negros. Quem mais sofreu foi a fazendeira.
- "Prá
qui é que sinhá tem este tronco?"
Ela não
respondeu; eles amarraram-na no tronco.
- "Prá
qui é que sinhá tem este bacaiau?"
Ela continuou
muda; eles vergastaram-na.
Isso durou
parte do dia e a noite inteira. Pela madrugada, a filha voltou de Sâo
Vicente acompanhada de soldados e capitães-de-mato. Deram o cerco
à fazenda, prenderam os escravos e levaram-nos para a cidade. No
entanto, durante a viagem, muitos deles foram degolados. As cabeças
foram espetadas em estacas e estas fincadas ao longo do caminho, onde ficaram
por muito tempo. Daí, o nome de estrada das Caveiras...
Quando o homem
terminou, lançou a vista em redor e viu que estava só; a
mulher que o interrogara caminhava adiante, seguindo as pegadas de Zéfiro.
Estavam agora
num encontro de morros, coberto de mato, onde se ouvia o ruído alegre
de uma cachoeira branca. Mas, a floresta apresentava-se escura e eles não
quiseram aventurar-se mais longe sem estudar melhor o terreno. Corria,
como foi dito, muita lenda a respeito daqueles europeus. Eles eram capazes
de recebê-los com o fogo sinistro de suas máquinas de morte.
Foram então determinadas algumas providências. Nada de gritos.
O menor ruído possível.
Então,
Zéfiro e os mais afoitos tomaram a incumbência de caminhar
à frente, passo a passo, por entre as árvores unidas, seguidos
pela multidão. Assim se fez. Os pioneiros paravam a cada instante,
comunicando as suas impressões aos que os seguiam. Em certo ponto,
Zéfiro parou com os braços abertos a fim de impedir a marcha
dos demais. Esse gesto só poderia ocorrer a um bailarino. Todos
pararam. Então ele, afastando com as mãos um galho de aleluia,
mostrou qualquer coisa à distância...
A mata terminava
bruscamente, seguindo-se pequeno vale de ervas rasteiras com o seu regato,
as suas árvores esparsas. No centro dessa larga clareira, intensamente
banhada pelo luar, ardia um fogo alegre. Via-se o quadro com todos os pormenores.
À beira do fogo estavam sentados dois caborés. Muito próximo,
junto
a um jacatirão, via-se o cavalo. Dois outros caborés agitavam-se
diante dele. Zéfiro estendeu o braço mostrando aquela cena
e certamente ia dizer muita coisa, mas só pôde articular estas
palavras:
- Chegamos
tarde demais!
E era verdade.
Um dos caborés que estavam diante do cavalo meteu-lhe uma faca comprida
no sangradouro. O animal nem se agitou. Ficou ali parado como bêbado,
a inclinar-se para a direita e para a esquerda; depois, abriu as pernas,
como se lhe faltasse o equilíbrio. O sangue jorrava. Vendo aquilo,
o outro caboré, que devia estar muito embriagado, aproximou-se da
fonte improvisada e, fazendo concha das mãos, começou a beber
avidamente o sangue. Nessa operação lambuzou a cara. O matador,
ainda com a faca na mão, começou a rir. Ele, como satisfeito,
pos-se a dar grandes cambalhotas na relva, de modo que a comprida barba
quase tocava nas compridas botas. Nesse ponto, os dois outros caborés
que se mantinham mais afastados aproximaram-se. Um deles, vendo o cavalo
cair morto, atirou-se sobre o animal e colou a boca peluda na chaga do
sangradouro. Os demais torceram-se de tanto rir.
Foi nesse ponto
que prorromperam gritos e assobios na mata, pondo os caborés em
fuga. As suas botas escorregavam no limo dos barrancos. E como estivessem
mais ou menos cercados, a fuga se lhes tornou difícil; dentro de
pouco, eram presos pela gola e arrastados pelo meio do mato. Ainda assim,
fizeram uso das armas explosivas, mas os tiros perderam-se na noite como
estalidos de galhos que se partem. Isso, porém, não amedrontou
ninguém e a massa humana levou-os consigo, entre gritos e apupos.
Com as mãos
amarradas nas costas, seguiram para o distrito.
Já muito
tarde, aquela gente desembocou na avenida Jabaquara. A notícia da
morte do cavalo e da prisão dos caborés havia-se espalhado.
Apesar de muito tarde, via-se a população ainda acordada.
As casas estavam
abertas e claras. Nas portas, as famílias saudavam com gritos e
risadas os excursionistas noturnos. Os caborés iam à frente,
fazendo barulho com as botas, as barbas ruivas emaranhadas, enroscadas
de folhas e gravetos. Alguns haviam perdido na fuga as cápsulas
de feltro a que chamavam de chapéu.
Ninguém
perguntou pela sorte que esperava aqueles seres atrasados. Mas, como se
o povo tivesse tomado previamente uma resolução os que os
haviam prendido prosseguiram no caminho até alcançarem as
imediações de Piassagüera, de onde se ia para o Assunguí.
Aí chegando, desamarraram as mãos dos presos. Estes ficaram
silenciosos, à espera do castigo que esperavam receber. Mas o povo
de Zanzalá não tinha (era uma tradição) a idéia
de castigar ninguém. Depois de soltá-los, mandou-os para
o seu núcleo perdido nas dobras da serra, convidando-os a não
voltarem mais ao vale, sob pena de serem novamente expulsos. Os caborés
não esperaram por mais e puseram-se a correr pelo caminho do Assunguí,
quanto lhes permitiam as suas compridas e ridículas botas.
Mas aconteceu
que era um sábado, véspera do segundo dia de descanso da
semana. Por isso, voltando de tão acidentada excursão, os
habitantes do vale reuniram-se na avenida que contornava o lago, a fim
de melhor discutirem a aventura. Dentro de pouco, não se sabe como,
apareceu uma orquestra e quando o relógio do distrito bateu as três
badaladas da meia-noite, já se dançava animadamente. As danças
prolongaram-se pela noite, até que a luz mortiça da pirâmide
se apagou no azul pálido do céu. |
