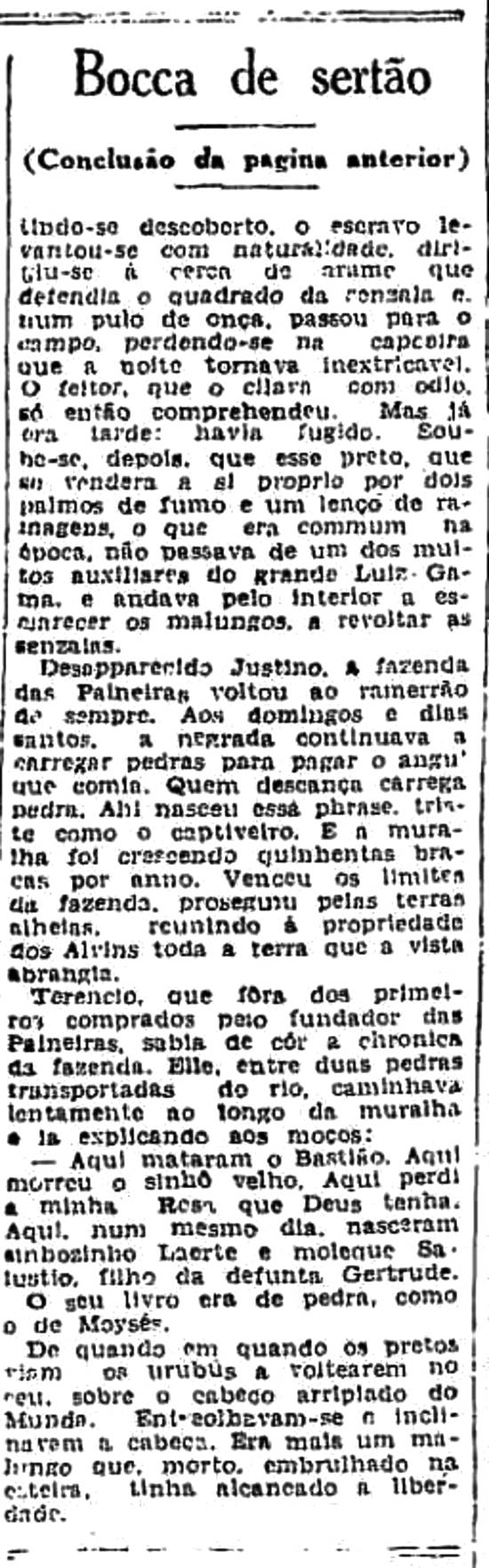|

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
11/5/1941 com o texto
I
Tinham começado a estrada de ferro; o picadão era interrompido de légua em légua e os engenheiros
mal recebidos em algumas fazendas. O foro regurgitava de mandados de segurança. Subiam e desciam papéis. Os rábulas discutiam nos corredores do
Fórum. Eram uns sujeitos magros, apergaminhados, de lunetas na ponta do nariz; sabiam de cor as leis e repetiam-nas a cada passo, numa espécie de
cantilena. Lembravam direitos assegurados pela tropa, atos de violência de parte a parte, e ameaçavam a estrada de ferro com indenizações de tirar
couro e cabelo.
Apesar disso, na ponta dos trilhos, a terra ia se valorizando vertiginosamente. Disputava-se a faca
um palmo de chão. Os intrusos não se atinham a sentenças; para eles, todas as terras eram devolutas. A expressão soava-lhes bem, enchia-lhes a boca.
Nas vendas, com réstias de cebola penduradas à porta, os capangas concertavam planos. Para sentarem nos mochos, tinham de tirar a garrucha. E
picavam fumo de corda com facas de palmo e meio.
Nas esquinas, homens de botas, chapéu de aba larga, roupa de brim avermelhada pela poeira, contavam
anedotas, citavam nomes de pessoas que andavam com arame farpado à volta da cintura. Quando a terra lhes convinha, era só correr o fio, armar o
rancho soltar no terreiro quatro galinhas ensinadas e, no dia seguinte, requerer a manutenção de posse...
Pedro Alvim, a quem os conhecidos chamavam de Pedroca, nobilitava as funções de oficial de justiça
do foro de Itu. Não era verdade o que diziam a seu respeito, nos corredores da cadeia, durante as intérminas audiências. Ele não comia com o prato
dentro da gaveta, para escondê-lo depressa, à chegada de uma visita. Muito menos verdade que ele, à noite, atravessasse a cidade com o cigarro de
palha na boca, apagado, á espera de ver, na distância, o fuzilar de um isqueiro. E quando via - acrescentavam os maldizentes - punha-se a gritar:
- Não apague! Espere aí que eu tenho um cigarro para acender!
Não era, pois, como se assoalhava, um unhas-de-fome. Mas era, quanto se podia ser, um sujeito
econômico, morigerado. Ambições desmedidas devoravam-lhe a alma. Tanto assim que, exercendo aquela modesta profissão, casado e com um filho,
conseguira comprar uma chácara perto do centro da cidade. A mulher, ajudada pela escrava, fazia doces que eram vendidos nas ruas, por dois moleques.
O filho, rapazola que puxara ao pai, não tinha profissão certa, mas, ao que se dizia, já contava igualmente um pé de meia...
Ali por 1865, com a animação da estrada de ferro, um sujeito de São Paulo plantou-se diante do
Pedroca e lhe propôs, à queima-roupa:
- Você quer vender a chácara? Dou-lhe catorze contos de réis.
Ele cuspiu longe.
- Tché...
Mas a velha e desmedida ambição começou a pinotear-lhe no bestunto. Voltou, esquadrinho o
proponente com olho profissional, e arriscou:
- Chegue mais alguma coisa.
O homem fez finca-pé.
- Catorze contos, nem mais uma pataca.
- Em que condições?
- Na ficha.
Foram para a venda, mandaram vir uma cerveja marca barbante, que o desconhecido pagou, e ajustaram
o negócio.
A venda da chácara correspondia a uma aspiração que nos últimos tempos o apoquentava dia e noite. O
dinheiro andava por aí, a dar com o pé. Todo mundo estava enriquecendo, menos ele. No entanto, tinha o principal para tornar-se rico: as unhas eram
compridas, negras e curtas para dentro, como garras. Por que não tentar?
Conversou com a mulher e o filho. Ambos se mostraram dispostos a enfrentar o que desse e viesse.
Aceitou a oferta, vendeu a chácara, reduziu a dinheiro tudo o que representava algum valor e deitou mãos à obra.
Para começar, arrematou um lote de oito escravos piolhosos e mofinos com que um comboieiro se
encravara em Tietê. Negrada boa apesar de tudo, mas que, com algum trato, ficaria de virar e romper. Na mesma demão, adquiriu duas bestas. E,
ratinhando pelas vendas, comprou sal, querosene, rolos de fumo, um garrafão de pinga.
Ia, afinal, ser fazendeiro. Mas não quis disputar a carne às feras. Preferiu usar de manha,
legitimar uma quadra de mato muitas léguas para lá de São João do Capivari, na direção de São Carlos, que era boca de sertão. Por aquelas alturas
ainda não tinha irrompido ali a febre que lavrava na ponta dos trilhos.
Depois de fazer demoradas visitas à zona e de remexer nos livros de assentamentos dos cartórios, elegeu para si cem alqueires que ficavam à beira de
um córrego e aos quais se dava, embora vagamente, o nome de Paineira. Um dia, entrou na vila de São João de Capivari à frente de meia dúzia de
negros e de duas bestas arcadas ao peso dos caçuás. Não fora debalde oficial de justiça em Itu, durante vinte anos. Conhecia toda gente. Os
capivarienses saudavam-no à sua moda, muito cantada:
- Óra seooô...
E ele, no mesmo tom:
- Ára seooô...
No dia seguinte chegou à Paineira. O mato era imenso, espesso e parecia sem dono. Aprofundou-se por ele e, depois de uma batida, escolheu vasta
clareira à beira do córrego. Ali mesmo improvisou dois ranchos, um para si e outro para a negrada. Acendeu a itacuruba e iniciou os trabalhos para a
posse. À noite, estirados nas camas de varas, acolchoadas com esteiras, ouviam o miado das onças. O caboclo que ficava mais próximo, a duas léguas
de distância, contou que, havia bem uns dez anos, encontrara um viajante estendido à beira do caminho; estava morto com uma flecha atravessada no
coração. Bobagem de caboclo. Mas eles começaram a temer os índios.
O trabalho foi duro. Os machados cantaram dias inteiros nos troncos das perobeiras; ao escurecer, ouvia-se um grito de alerta e, logo depois, a
árvore pendia para o lado, desabava com estrondo, alarmando o silêncio da floresta. Centenas e centenas de troncudos jacarandás tiveram o mesmo fim.
Para trás, em pé, só ficou um pau-d'alho, como padrão de boa terra. Era uma árvore imensa, de galharia monstruosa, emaranhada de cipós, craquenta de
musgos, enredada de ervas-de-passarinho, felpuda de barbas-de-velho, ouriçada de parasitas.
Era ali, naquela copa diluída no céu, que pousavam maitacas
e tiribas, em bandos tão espessos que toldavam a limpidez das tardes. Ao escurecer, um sabiá-coleira cantava a tristeza do sertão. E pela noite
desciam os gambás, moradores efetivos das touças de caraguatás vicejantes nas forquilhas. A cem braças de redor, cheirava a alho esmagado, como nas
cozinhas.
Enquanto a derrubada se atrasava, as foices iam na frente, comendo a capoeira.
D. Petronilha, a mulher do Pedroca, ficava no rancho com as escravas, cozinhando para a negrada. Bojudo caldeirão de feijão fervia na vara, suspenso
por duas forquilhas. No chão, ardiam toros verdes, vestidos de musgo, fazendo fumaça. Dava gosto ver o trabalho. Os homens saíam com a primeira luz
da manhã e voltavam para o rancho ao pardejar do dia. O mato estava serenado. Entanguidos, quase nus, diziam facécias que só eles entendiam. O
Terêncio, que ia na frente, contava aos parceiros:
- Bastião botou a mão na cumbuca!
E o Bastião, assustado e divertido:
- Eu? Vôte, cobra! Cumbuca tem calango!
A fila de pretos, a um de fundo, torcia-se de rir.
Os que iam na frente batiam com a foice nos caetês, para derrubar o orvalho acumulado durante a noite. E cada foiçada era uma cuia d'água que lhes
caía sobre os andrajos.

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
18/5/1941 com o texto
II
Os escravos, nessas lutas, sacrificavam-se pelo senhor. A aventura das Paineiras não era do amo,
era deles. Davam o trabalho, o martírio daquela vida de fome e, se preciso fosse, arriscariam a vida, a fim de que seu branco tivesse uma fazenda.
Quando agosto chegou, queimaram a roça. O fogo nasceu pequenininho num amontoado de galhos secos, esgueirou-se por entre talos verdoengos, com
chiados finos e matraquear de carteiras-de-traques; passou para os montes de folhas caídas, alcançou os troncos deitados, envolveu-os nas musselinas
vermelhas, fumarentas, que se faziam azuis para escalar o céu; alcançou as árvores franzinas, esmagadas sob o peso dos grossos troncos abatidos,
subiu pelos musgos esturricados, lambeu as barbas-de-velho, bebeu a água do sereno acumulada no copo verde dos caraguatás, derriçou a folhagem de
ouro das urucuranas mortas, investiu de cabeça baixa, como touro bravo, contra as serapilheiras, atirou-se contra os tabocais, com alaridos e
estrépitos de batalha, cresceu, subiu, atirou para o ar torvelinhos de fumo e de centelhas.
Os troncos se torciam, os ramos estalavam pelos nós, a umidade presa entre a casca e o lenho chiava e rechiava, nuvens de insetos dançavam,
enlouquecidos pela fumaça, cobras fugiam sem vergonha, chocalhando guizos, espadanando folhas, entre as pernas dos negros assustados. Atrás ia
ficando a coivara, o chão calcinado, a dança da fumaça perdida, à mercê do vento.
No centro, só, respeitado pela labareda, restou o pau-d'alho, Mas, com a aproximação do fogo, a árvore se pôs trêmula. As aves gritavam pelos ramos.
Nas touças de caraguatás, focinhos agudos farejavam a queimada. As volutas, revoluteando, atravessavam a árvore e a gritaria aumentava. Em certas
horas, entravam pelas forquilhas, embebiam-se a folhagem e iam enroscar-se nas últimas versas, quase a confundir-se com as nuvens. Com o vento da
noite, inclinavam-se para as bandas do sertão, estiravam-se sobre o rio, os outeiros e os campos, como frouxas cordas de crepe que mãos invisíveis
fossem descochando à claridade das estrelas.
Quando acabou a queimada, a terra ficou triste, coberta de luto. Os tocos carbonizados pareciam pretos de cócoras.
Mas a notícia assanhou curiosos, trouxe dificuldades. Um boiadeiro de Campinas apresentou-se como dono, dizendo que havia ganho aquela terra pela
festa do Espírito Santo, numa rodada de chimbica. Citava testemunhas. Mas Alvim, rato de foro, conhecendo-lhe as tricas, arranjou um testa-de-ferro
que, no mesmo momento, se inculcou proprietário da região das Paineiras. Tinha-a tirado por sorte numa rifa. Indicou o sujeito que a rifara. Este,
por sua vez, exibiu títulos discutíveis, mas que ao menos estavam em papel estampilhado... Já era alguma coisa.
Enquanto no foro a demanda seguia os trâmites, no sertão a fazenda ia surgindo, pouco a pouco, das terras brutas. Foi o capanga quem ganhou a
questão. Alvim, que não esperava outra coisa, passou-lhe uma escritura de compra. Dali por diante ninguém mais se atreveria a contestar-lhe a
propriedade; tinha por si a Justiça.
Só ia à vila de mês em mês, para comprar sal, fumo, querosene. Apeava do cavalo à porta da venda, amarrava a rédea na argola do oitão e passava
horas inteiras sentado num corote, a conversar fiado. No meio da prosa, quando o assunto esfriava, ele coçava os bolsos, lastimava a ausência de um
cigarro que não havia guardado:
- Nem fumo tenho. Ando tão acarretado...
O outro compreendia.
- Que se pite?
E ele:
- Que sei!
A operação era longa e trabalhosa. Picava o fumo com pachorra, migava-o entre as palmas das mãos, juntava a porção ao lado. Aí começava o ritual da
palha. Esta era cortada, alisada, amaciada... Meia hora depois, o cigarro estava feito. Começava então a luta com a binga. Sentia-se um cheiro de
pano queimado... À primeira fumaça, vinha a opinião:
- Eta fuminho... É de Pricicaba ou de Tietér?
- Quá. É macaio daqui mesmo.
- Nem que fosse mata-pioio. Não sô pobre soberbo...
Na fazenda, a mulher, o filho e os escravos comiam palmito cozido em água e sal. De quando em quando, uma cotia caçada na tiguera. Aos domingos, em
que iam pescar no rio, jantava-se uma caldeirada de peixe miúdo. Com o tempo surgiram: o cafezal, o canavial, a horta. Machucheiros e carazeiros
grimpavam pelas cercas. Taiobas abriram folhas largas sobre o córrego. Veio o café coado com garapa. Mais tarde o café passou a ser adoçado com
rapadura. Um dia, as escravas puseram o tacho no fogo e fizeram açúcar. Açúcar preto e grudento como tijuco. E passaram a refiná-lo, a clareá-lo com
excremento das bestas.
Por essa altura, iniciaram a construção da casa da fazenda. As pedras foram trazidas do rio, no ombro dos escravos. O barro, transportado em cestas,
do outeiro a que os pretos chamavam de Munda e que Munda ficou para sempre. Era uma vasta residência de chão batido com mão de pilão. As paredes de
taipas, espessas como as de um convento. Só a sala e o quarto do casal eram assoalhados e forrados. As demais dependências, de telha-vã. De dia,
flechas de luz desciam da cumeeira, pondo manchas de ouro pelo chão escuro e úmido. De noite, quem fixasse o teto acabaria por ver, entre duas
telhas, a luminosidade de uma estrela.
A senzala foi ao mesmo tempo construída ao pé do córrego, para lá do monjolo; era um quadrilátero dividido em células, onde os escravos dormiam por
grupos, por famílias. Terminado o trabalho, constituída a fazenda, foram para a senzala e ninguém pensou mais neles. Lé com lé, cré com cré. Foi
contratado um feitor. Tinha um nome qualquer. Contava-se, em voz baixa, que viera de longe, perseguido pela polícia, por ter despejado a garrucha
num negro renitente. Mas isso não era pecado, era recomendação.
Foi por essa altura que Antonio Alvim, filho de Pedroca, tomou-se de amores por d. Ana. Era uma moça esbelta, de cabelos castanhos, quase louros,
filha de abastado negociante. Chamava-se Ana. Aliás Donana. Chegavam mesmo a chamá-la, em certos casos, de Dona Donana, o que era de muito respeito.
Anunciado o casamento, vieram pedreiros e carpinteiros para a fazenda, construindo um puxado, segundo a opinião das mucamas, melhor do que a casa...
Mas era para Sinhozinho... E para Sinhazinha... Eles bem o mereciam...
A fazenda ia entrar na sua normalidade, quando surgiu uma precatória: um titular que passara muitos anos na Europa, ao regressar, fora inteirado da
apropriação das suas terras e, munido de documentos, recorreu à Justiça. Alvim apresentou a escritura de compra. E a demanda prosseguiu com subidas
e descidas de autos... O raio do Alvim parecia ter a Justiça a seu favor... Pressentindo a conclusão final, o titular, ou alguém por ele, organizou
um assalto à fazenda... Certa manhã, a sogra e a nora estavam na cozinha areando um tacho, os pretos trabalhavam no eito, o dono da casa andava pelo
cercado a ver os porcos, quando, inesperadamente, aos gritos, uma horda de capangas invadiu o terreiro e se pôs a forçar janelas e portas, no
propósito de atacar os moradores.
- Quem não é dono, ponha-se na rua!
As mulheres começaram a gritar, a descabelar-se. Pedroca, que num relance d'olhos compreendeu tudo, tomou da buzina pendurada no mourão da cerca e
se pôs a assoprar nervosamente, tirando sons prolongados que se perdiam para lá das plantações. Um preto apareceu, curioso, na altura do monjolo. O
fazendeiro gritou-lhe:
- Muge, chame a negrada!
Muge era um velho africano. Apesar disso, compreendeu a ordem do senhor. Se não compreendeu muito bem as palavras, viu pela gente espalhada no
terreiro, em atitude agressiva, que a situação não era normal. Mergulhou na quiçaça e desapareceu. Momentos depois, a negrada surgiu no aceiro da
roça, gritando, brandindo foices que relampeavam ao sol. Também era tempo. O chefe da capangada tinha amarrado Pedroca no mourão da porteira e,
garrucha em punho, exigia dele a assinatura de um papel...
Travou-se a luta. Escravos e capangas atacaram-se a foice. Os ferros cruzavam-se no ar. Não raro, o aço mordia o aço, com um som arrepiante.
Atoravam-se homens como bananeiras. Erguiam-se braços mutilados. Gritos, uivos, pragas de arrepiar cabelos. O sangue sujava o chão. E isso durou até
que os assaltantes, percebendo que não levariam a melhor, debandaram por baixo da cerca ou saltando as varas da porteira. Já longe, o chefe
voltou-se para trás e disparou a garrucha: dois panásios que barrearam de chumbo o terreiro.
Um homem caiu morto: Bastião. Era o preto que dizia facécias. Os parceiros embrulharam-no em sacos, depois numa esteira, e levaram o corpo para o
outro lado do Munda, a um quarto de légua. Durante mais de uma semana, os urubus fizeram grandes voltas pelo céu, sobre o pico do morro. E os
malungos, na senzala, à roda do fogo, contavam histórias do companheiro. Às vezes, repetiam os seus ditos:
- Cumbuca tem calango!
E riam, riam...

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
25/5/1941 com o texto
III (Conclusão)
O fazendeiro levou dias para repor-se do susto. Assim que pôde, montou a cavalo e foi à cidade
queixar-se ao delegado. Nas suas declarações, adiantou que aquilo devia ter sido obra da capangada do titular. Inquéritos, testemunhas, depoimentos,
um nunca acabar de idas e vindas. Uma tarde, regressando à fazenda, passou pelo cerrado. O caminho cortava um bosque de árvores escuras. Algumas
delas tinham sido derrubadas para a construção da casa. Ele ia pensando na inquirição: o juiz pergunta assim, eu respondo assado e...
Alguém, escondido atrás do toco, disparou-lhe um tiro pelas costas. Pedroca ainda se ergueu na sela, ainda quis olhar para trás, mas afocinhou no
pescoço do cavalo, resvalou para a esquerda, caiu, embolou no chão. Estava morto. O animal, como compreendendo o que havia acontecido, meteu a
galope para a banda das Paineiras. Quando chegou à porteira, ficou a esfregar o pescoço nas varas, a coçar-se. Antonio de Castro Alvim, que estava
na arrecadação, a ensebar uns arreios, ouvindo aquele ruído, foi saber do que se tratava. E, ao ver o cavalo sem cavaleiro, arrastando a rédea pelo
chão, não teve dúvidas sobre o que tinha acontecido; um grito subiu-lhe do mais íntimo do peito:
- Bandidos! Mataram papai!
Assumiu a direção da fazenda. No local da tocaia foi erguida uma cruz de madeira, amarrada com cipós. No ano seguinte, essa cruz foi substituída por
outra, confeccionada por um carpinteiro. Três anos depois, em cumprimento a uma promessa, a cruz de pau foi trocada por outra de ferro batido. Os
caminhantes traziam de longe uma pedra para depor-lhe aos pés. E a cruz fez milagres. Um dia, surgiu a capela. A 3 de maio, passou-se a festejar a
Santa Cruz, aliás Santa Cruz do Cerrado. Improvisaram-se ranchos ao redor. E vendas. A capela, com o tempo, passou a ser igreja. Em volta dela
alastrou-se e floresceu o distrito. Muitos anos depois, desapareceu o nome de Santa Cruz e só ficou o de Cerrado. É essa a história de algumas
cidades do sertão. No fundo da propriedade há o toco; no fundo da cidade há a cruz.
A vida nas Paineiras, dentro de pouco, tomou o caminho comum às demais fazendas. Durante a semana era o trabalho no eito. Aos domingos, para pagar o
angu que comiam, os pretos trabalhavam na cerca da propriedade. Das sete às onze horas, iam ao rio buscar pedras. Traziam-nas na cabeça sobre
rodilha de pano, ou no ombro, segurando-as com as mãos. Eram blocos arredondados, lisos, polidos pelas águas da tupava. Alguns, cobertos de
mucilagens, pareciam cabeças humanas, com cabelos verdes. E escorregavam das mãos. E caíam dos ombros sobre os pés dos que as carregavam.
Os pretos, em fila, cadenciavam os passos com gemidos:
- Uh, up, uh, up...
Com o decorrer dos anos, a muralha negra, de pedra enxuta, sem reboco, foi se estendendo por aquelas terras. Já havia passado em muitos pontos as
primitivas divisas da fazenda. Pouco importava. Era a conquista, o latifúndio. Gritasse quem quisesse. Sempre que o feitor ficava para trás, os
pretos conversavam entre si. Uns mostravam orgulho de ter feito aquilo tudo por sinhozinho; outros, já trabalhados pelos andantes, falavam em voz
baixa e diziam coisas obscuras. O mais curioso era aquele Muge, velho africano, entrado de contrabando, que continuava a ignorar língua de branco.
Tinha no pescoço, por baixo da camisa curta, de algodãozinho riscado, que parecia pano de colchão, um colar de conchas. Falecido Bastião dizia, lá
na sua, que aquilo parecia – mitirimbimbe...
Era fujão, mal mandado. Contava-se que sabia reza forte. Quando dormia, sonhava. Quando sonhava, rilhava os dentes e dizia coisas em língua da
Guiné. De noite, ao deitar-se na tarimba, botava a faca debaixo do travesseiro, para afugentar os maus espíritos. Os companheiros tinham medo dele.
Só falava a um amigo – o Justino. Esse Justino era um preto estranho. Vivera em São Paulo e sabia coisas perigosas, mas por isso mesmo era mudo,
mudo como um peixe. Os brancos tinham-no na conta de sonso. Aconteceu, porém, um fato inesperado: Justino, mesmo sem falar, foi se tornando o chefe
da negrada. Mas aquilo não podia ser mantido em segredo. Uma noite, à roda do fogo, o feitor apanhou-o com a boca na botija, a desencabeçar os
parceiros.
Sentindo-se descoberto, o escravo levantou-se com
naturalidade, dirigiu-se à cerca de arame que defendia o quadrado da senzala e, num pulo de onça, passou para o campo, perdendo-se na capoeira que a
noite tornava inextricável. O feitor, que o cilava com ódio, só então compreendeu. Mas já era tarde: havia fugido. Soube-se, depois, que esse preto,
que se vendera a si próprio por dois palmos de fumo e um lenço de ramagens, o que era comum na época, não passava de um dos muitos auxiliares do
grande Luiz Gama, e andava pelo interior a esclarecer os malungos, a revoltar as senzalas.
Desaparecido Justino, a fazenda das Paineiras voltou ao ramerrão de sempre. Aos domingos e dias santos, a negrada continuava a carregar pedras para
pagar o angu que comia. Quem descansa carrega pedra. Aí nasceu essa frase, triste como o cativeiro. E a muralha foi crescendo quinhentas braças por
ano. Venceu os limites da fazenda, prosseguiu pelas terras alheias, reunindo à propriedade dos Alvins toda a terra que a vista abrangia.
Terêncio, que fora dos primeiros comprados pelo fundador das Paineiras, sabia de cor a crônica da fazenda. Ele, entre duas pedras transportadas do
rio, caminhava lentamente ao longo da muralha e ia explicando aos moços:
- Aqui mataram o Bastião. Aqui morreu o sinhô velho. Aqui perdi a minha Rosa que Deus tenha. Aqui, num mesmo dia, nasceram sinhozinho Laerte e
moleque Salústio, filho da defunta Gertrude.
O seu livro era de pedra, como o de Moisés.
De quando em quando, os pretos viam os urubus a voltearem no céu, sobre o cabeço arrepiado do Munda. Entreolhavam-se e inclinavam a cabeça. Era mais
um malungo que, morto, embrulhado na esteira, tinha alcançado a liberdade.
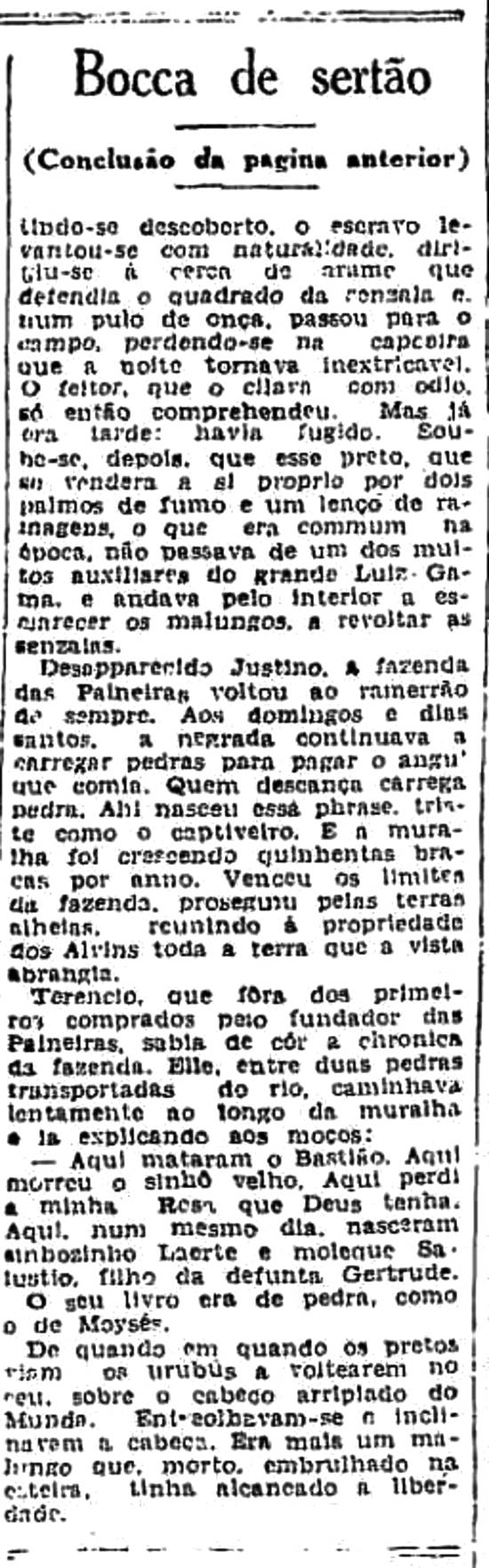
Imagem: reprodução parcial da pagina 5 da edição de
25/5/1941 com o texto |